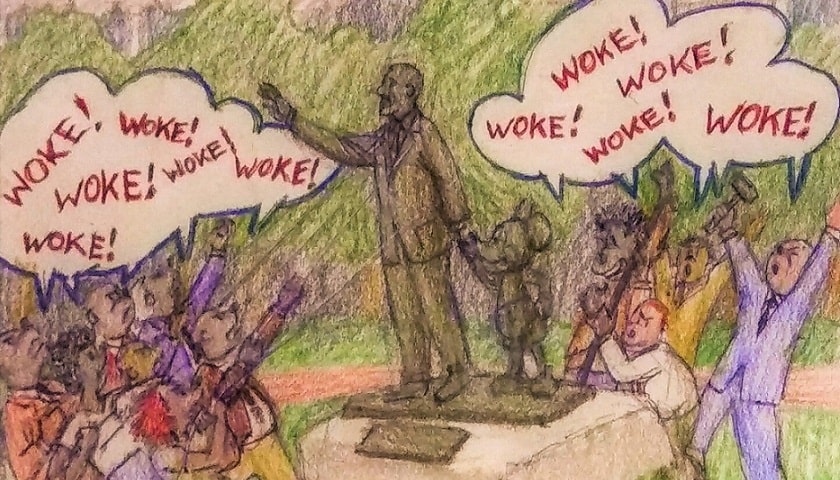Intensa batalha cultural agitou a França desde que chegou o que poderíamos chamar, segundo o título da obra ricamente documentada de Atílio Faoro, “A Revolução Woke”. Para preservar os valores cristãos e tradicionais face a este fenômeno, é essencial compreender em profundidade as suas origens, as suas manifestações e os perigos que representa. É precisamente este o escopo do presente texto.
Sumário
- Atualidade do tema
- Origens da expressão “woke”
- “Wokismo”, filosofia herdada do marxismo
- Teoria crítica da raça
- Antirracismo militante leva a soluções grotescas
- Feminismo radical
- Ideologia de gênero
- Ambientalismo radical
- Consequências desta ideologia são muitas vezes desastrosas
- Interseccionalidade ou convergência de lutas
- “Cancelar”: primeiro passo para impor a ditadura woke
- Divisão religiosa entre a elite woke e o povo
1. Atualidade do tema 
A eleição de Donald Trump foi vista por muitos analistas como uma rejeição da ideologia progressista e um ponto de viragem global contra o wokismo
Dominique Labarrière escreve em Causeur:
“A vitória de Trump é acima de tudo a derrota, a derrota do wokismo, esta mistura de falsa ciência, de ‘moralina’ mal-ajambrada, de ódio a si mesmo, de desprezo pela verdade”. Acrescenta que essa vitória marca o “crepúsculo dos ídolos” e anuncia o “despertar das legiões do bom senso e da cultura do real, descrevendo este acontecimento como o ‘Ano Um’ de uma reconquista” para o Ocidente.
Hubert Védrine, antigo ministro das relações exteriores, homem de esquerda e observador atento da cena internacional, vê nisso uma “correnteza de fundo visceral, popular no sentido mais amplo, de pessoas que desejam pôr fim ao progressismo. […] Trump não é uma aberração, mas um fenômeno destinado para durar”. E acentua: “É quase como se uma voz coletiva tivesse se levantado para dizer: Basta!”
O analista do Le Figaro, Renaud Girard, conclui que as posições excessivamente wokistas do Partido Democrata contribuíram para a sua derrota e o geógrafo Christophe Guilluy analisa essa vitória como uma reação ao ostracismo da maioria ordinária silenciada.
Quanto aos católicos americanos, o seu papel é inegável: segundo o Washington Post, 56% deles votaram em Trump, marcando um aumento significativo.
No entanto, ao contrário dos Estados Unidos, o wokismo permanece bem ancorado na Europa e em outros continentes — na América Latina, por exemplo, onde continua a estruturar discursos políticos e culturais de partidos e meios de comunicação esquerdistas.
2. Origens da expressão “woke” 
A palavra “woke”, derivada do verbo inglês to wake up (despertar) tem suas raízes na linguagem informal dos círculos afro-americanos. Inicialmente, denotava uma consciência das injustiças sociais que afetavam esta comunidade. Segundo a Wikipédia, o termo se expandiu para outras questões, incluindo aquelas relacionadas ao sexismo, gênero e identidade LGBT. Durante os protestos de Ferguson em 2014, ganhou visibilidade graças ao movimento Black Lives Matter (BLM).
Esta ideia de “despertar” face à injustiça evoca a década de 1970, quando figuras como Dom Helder Câmara, conhecido como o “arcebispo vermelho”, e Paulo Freire, sociólogo marxista brasileiro, defendiam a “conscientização” revolucionária.
3. “Wokismo”, filosofia herdada do marxismo 
O wokismo reformula o pensamento marxista ao diversificar as lutas identitárias. O marxismo clássico denuncia a propriedade privada como a infraestrutura responsável pela suposta exploração econômica do proletariado pela burguesia capitalista; o wokismo amplia esta grelha de análise atribuindo injustiças análogas a estruturas multiformes de opressão: patriarcado, colonialismo, “heteronormatividade”, ou mesmo “especismo”, responsável pela predação ambiental.
Maio de 68 marca a grande transição do marxismo tradicional, centrado nas classes socioeconômicas, para o pensamento neomarxista oriundo da Escola de Frankfurt. Esta escola mistura a dialética marxista com a psicanálise de Freud, o existencialismo e o relativismo cultural, atraindo diversas minorias visíveis para conglomerar um novo proletariado simbólico em rebelião contra as normas sociais dominantes. O objetivo comum continua sendo a destruição das supostas relações de dominação, mas através da multiplicação das frentes de luta.
O wokismo também está enraizado em teorias filosóficas desenvolvidas na França e depois popularizadas nas universidades americanas sob a etiqueta French Theory. Figuras como Derrida, Foucault, Gilles Deleuze e Guattari fornecem conceitos básicos, como a desconstrução e o relativismo, influenciando novas disciplinas como os estudos de gênero ou os estudos pós-coloniais.
O wokismo moderno está dividido em várias correntes, cada uma centrada em um problema específico percebido como fonte de opressão. Concentrar-me-ei em quatro ramos: racismo antibranco, feminismo androfóbico, ideologia de gênero e ambientalismo punitivo. Embora por vezes divergentes, esses ramos convergem no seu desejo de desconstruir hierarquias e normas sociais para estabelecer uma sociedade mais igualitária e inclusiva.
4. Teoria crítica da raça 
A teoria crítica da raça é uma aplicação dos conceitos da Escola de Frankfurt, adaptados ao quadro das relações humanas e raciais. Tal como no marxismo, afirma que uma infraestrutura exploradora mantém instituições sociais, políticas e culturais destinadas a perpetuar a dominação dos brancos sobre outros grupos. De acordo com esta abordagem, a própria noção de “raça” é uma construção artificial criada pelo Ocidente para justificar a colonização, a escravatura e a hierarquia racial.
Pap Ndiaye, antigo ministro francês da Educação e historiador, ilustra este ponto com a ideia de “racismo estrutural”: não se trata apenas de atos individuais de racismo, mas de um sistema enraizado nas instituições e na cultura ocidental, baseado na convicção da superioridade da civilização cristã que continua a permear as mentalidades.
Nikole Hannah-Jones, ativista e jornalista do New York Times, vai além, argumentando que todas as pessoas brancas são beneficiárias de um sistema centenário de supremacia racial. Ela diz que o racismo persiste mesmo entre aqueles que apoiam ostensivamente a igualdade racial, porque continuam influenciados, mesmo sem perceber, por uma história marcada pela escravatura e pela segregação.
A teoria crítica da raça condena também as chamadas políticas “daltônicas”, que se baseiam no mérito individual, sem levar em conta a cor da pele. Estas regulamentações, embora igualitárias, são consideradas insuficientes. Em seu lugar, promove-se a discriminação positiva, com o estabelecimento de quotas na educação, na comunicação social ou no emprego. Segundo os seus defensores, este tipo de discriminação procura corrigir injustiças históricas dando preferência às minorias.
No entanto, esse ativismo suscita críticas. Alguns acreditam que tais medidas reforçam os estereótipos sobre as supostas capacidades inferiores dos grupos favorecidos e aumentam as tensões raciais. Em vez de promover o diálogo pacífico entre as comunidades, esta abordagem corre o risco de criar barreiras adicionais, dificultando o estabelecimento do entendimento mútuo.
Em suma, a teoria crítica da raça transforma a luta de classes marxista numa luta racial. Esforça-se por desconstruir os fundamentos históricos e culturais do racismo, mas suscita debates acalorados sobre como alcançar uma verdadeira igualdade.
É oportuno recordar que não devemos nos envergonhar da nossa civilização ocidental, nem dos esforços de evangelização e colonização empreendidos pela Europa entre os séculos XVI e XIX. Se essa civilização dominou o mundo, é porque sua cultura e seus valores eram superiores; não por causa de algum suposto gênio racial, mas graças ao cristianismo e à ação da graça divina. São Pio X expressou isto com força na sua encíclica Il Fermo Proposito:
“A Igreja, ao pregar precisamente Cristo crucificado, escândalo e loucura aos olhos do mundo (1 Cor, 1, 23), veio a ser a primeira inspiradora e fautora da civilização; e difundiu-a por todos os territórios em que pregaram seus apóstolos, conservando e aperfeiçoando os bons elementos das antigas civilizações pagãs, arrancando da barbárie e educando para a convivência civil os novos povos que se refugiavam em seu seio materno, e dando a toda a sociedade, ainda que pouco a pouco, mas com passo seguro e sempre progressivo, aquela marca tão sobressalente que todavia hoje conserva universalmente.”
Ele acrescentava com lucidez:
“A civilização do mundo é civilização cristã; e tanto mais verdadeira, mais durável e mais fecunda ela é em preciosos frutos, quanto mais nitidamente cristã ela for; tanto mais declina, com imenso dano ao bem social, quanto mais se afastar da ideia cristã.”
Fechemos este parêntese para tratar de uma consequência direta da teoria crítica da raça: o surgimento de um fenômeno preocupante, o racismo reverso ou o racismo antibranco.
5. Antirracismo militante leva a soluções grotescas 
Vejamos o exemplo da Disney atribuindo o papel de Branca de Neve a uma atriz mestiça, ou o de uma produção inglesa na qual a rainha Ana Bolena — a amante do rei Henrique VIII que foi a causa do cisma da Inglaterra — é interpretada por uma atriz negra. Estas iniciativas, em vez de promoverem a diversidade, provocam debates acalorados e reforçam tensões.
Um péssimo exemplo vem da Universidade Evergreen, no estado de Washington, onde se organiza anualmente o “Dia de Ausência”. Essa iniciativa proíbe o acesso de estudantes e professores brancos ao campus, para que “vivenciem” a exclusão. Bret Weinstein, um professor judeu de esquerda, questionou o evento por e-mail, chamando-o de racismo antibranco. A sua posição desencadeou protestos agressivos, ameaças, desfechando na demissão dele e de sua esposa, também professora.
Em Paris, a União dos Estudantes da França e o sindicato Sud organizaram reuniões “não racialmente mistas”, proibidas aos brancos, provocando controvérsias semelhantes.
A situação se torna ainda mais preocupante quando a própria matemática é considerada uma manifestação de racismo sistêmico. Em Seattle, as escolas públicas incorporaram a matéria da teoria crítica da raça no ensino da matemática, dizendo que a disciplina é “usada para oprimir indivíduos”. De acordo com esta perspectiva, os professores que tratam os erros dos alunos como desacerto reforçam ideias de perfeccionismo e paternalismo — duas ideias comumente associadas à “cultura da supremacia branca”.
Um programa de “matemática equitativa” financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates vai ainda mais longe: “A cultura da supremacia branca emerge nas salas de aula de matemática quando […] a ênfase é colocada em obter a resposta ‘certa’. […] Apoiar a ideia de que há sempre respostas certas e erradas perpetua a objetividade, bem como o medo do conflito aberto”.
O prêmio do ridículo, no entanto, vai para Mathilde Cohen, investigadora do Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França e professora da Universidade de Connecticut. Durante teleconferência para a Faculdade de Ciências Política de Paris, ela afirmou:
“A refeição francesa é frequentemente representada como um ritual nacional no qual todos os cidadãos podem participar igualmente, mas, na realidade, os hábitos alimentares são moldados pelas normas brancas da classe média alta.”
Falou da “branquitude alimentar”, acusada de reforçar a dominação branca, citando como prova as cantinas escolares que desde o século XIX impunham padrões “brancos e cristãos”. Acrescentou que durante a colonização a cidadania francesa foi concedida em parte com base nos hábitos alimentares dos requerentes, privilegiando a cozinha francesa em detrimento das culturas locais.
Apesar das críticas, a faculdade defendeu a participação de Mathilde Cohen neste evento, ao declarar: “A nossa universidade acolhe, no quadro do debate científico, a pluralidade das abordagens contemporâneas das ciências humanas e sociais, respeitando ao mesmo tempo o quadro ético da investigação.”
Estes excessos mostram que a teoria crítica da raça distorce completamente a realidade histórica e só consegue criar mais fraturas, em vez de promover a verdadeira justiça e a reconciliação das comunidades.
6. Feminismo radical 
O feminismo radical é fundamentalmente diferente do feminismo liberal original, que procurava eliminar as desigualdades jurídicas, civis e econômicas entre homens e mulheres no quadro da vida cívica. Este primeiro feminismo defendia a partilha equitativa das responsabilidades familiares e o aumento da participação das mulheres na vida pública e econômica.
O feminismo radical, nascido na década de 1970, baseia-se numa análise marxista e estruturalista da “dominação patriarcal”. Extrai seus fundamentos doutrinários da obra A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels. Segundo Engels, a “derrota histórica universal do sexo feminino” resulta da privatização das relações conjugais, após o aparecimento da monogamia e do patriarcado, estruturas destinadas a garantir a transmissão da herança. Marx e Engels concluíram que a abolição da família e do casamento deve acompanhar a do capitalismo, cabendo a educação das crianças ao Estado, para formar uma sociedade igualitária e livre de interesses individuais egoístas.
O feminismo radical vê, portanto, o patriarcado como uma estrutura sistêmica de dominação a ser desconstruída. Ao contrário do feminismo marxista clássico, que subordina a luta feminina à luta de classes, o feminismo woke considera a libertação das mulheres como o pré-requisito essencial para qualquer transformação social. Esta visão faz das relações sociais de gênero uma luta das mulheres contra os homens e promove o desaparecimento destas categorias através da negação do sexo biológico. É aqui que o feminismo radical encontra a ideologia de gênero, como veremos mais adiante.
Esta abordagem, centrada na vitimização das mulheres e na criminalização sistemática dos homens, deu origem a uma misandria por vezes virulenta.
Noémie Halioua, jornalista e ensaísta, afirma que a aversão aos homens leva as feministas radicais a “criminalizar o masculino na sua essência, a subjugar a sua profunda identidade sexual, até nas suas hormonas. Trata-se de distorcê-lo, de negá-lo nas suas aspirações primárias, de distorcê-lo para torná-lo outra coisa, mais suave e mais politicamente correto. […] Como se um coração masculino nunca tivesse abrigado a menor doçura, como se fosse incapaz de amar e não merecesse sê-lo. […] O homem moderno é chamado a flagelar-se cada vez mais na esperança de conquistar o seu direito de existir; ele é chamado, segundo o termo da sociologia popularizado por Jacques Derrida, a ‘desconstruir-se’, como um móvel da IKEA montado de cabeça para baixo […] para conquistar o direito de existir livremente”.
Algumas figuras do feminismo radical expressam abertamente a sua hostilidade para com os homens. Caroline De Haas, cofundadora do movimento “Ouse o feminismo”, ex-assessora do ministério francês de Educação, declarou: “Em cada dois ou três homens, um é agressor.”
O estupro, a agressão e o assédio não seriam, de acordo com esta perspectiva, comportamentos individuais resultantes de escolhas repreensíveis feitas por um pequeno grupo de criminosos, mas seriam fenômenos sistêmicos profundamente enraizados no sexo masculino. Nesta perspectiva, mesmo gestos anódinos como o cavalheirismo fariam parte de uma série contínua que leva até a violência masculina.
Pauline Harmange, no seu livro Eu odeio os homens, vai ainda mais longe: “Odiar os homens, como grupo social e muitas vezes também como indivíduos, traz-me muita alegria — e não só porque sou uma bruxa velha e maluca por gatos.”
Alice Coffin, num panfleto anti-homens, explica que se recusa a ler obras escritas por homens ou a ouvir as suas criações artísticas, afirmando assim uma ruptura total com o seu contributo cultural.
A popularização do conceito de “masculinidade tóxica” ilustra esta tendência para a crítica sistemática dos homens, muitas vezes baseada em argumentos vagos, mas altamente publicitados. Noémie Halioua deplora “esta caça ao homem [que] também se realiza no vocabulário quotidiano com a popularização de conceitos confusos que se dão um ar científico, para melhor evitar qualquer crítica do bom senso”.
O homem “desconstruído” tornou-se uma figura emblemática deste feminismo. A deputada francesa Sandrine Rousseau, durante as primárias do Partido Verde para a eleição presidencial, vangloriou-se de conviver com um homem desconstruído e de estar extremamente feliz com isso, acrescentando: “Não confio em homens ou mulheres que não tenham seguido o caminho da desconstrução”, porque só personalidades desconstruídas podem “responder às necessidades dos oprimidos face à discriminação”.
Vale a pena focalizar um conceito-chave do feminismo radical: “desconstrução”, um termo emprestado do filósofo Jacques Derrida. Esse processo introspectivo de desconstrução de si mesmo, sempre inacabado, convida os indivíduos, principalmente os homens, a questionarem sua condição de heterossexuais, a negarem sua virilidade, a abraçarem a causa feminista e, de certa forma, a se curvarem diante das mulheres como forma de arrependimento coletivo.
Um elemento fundamental desta desconstrução reside na linguagem, que as ideólogas feministas percebem como a origem de todas as desigualdades. O masculino universal, utilizado durante séculos nas línguas latinas para designar grupos mistos, é particularmente visado. Uma mulher bem-educada que diga pertencer ao sindicato dos professores ou dos assistentes sociais, ou que ensine às crianças os “Novíssimos do homem”, seria, segundo as feministas, prisioneira de uma estrutura linguística que deve ser destruída.
Para isso, promoveu-se uma linguagem inclusiva, exigindo que as fórmulas fossem sistematicamente duplicadas: “alunas e alunos”, “trabalhadoras e trabalhadores”, “cidadãs e cidadãos”, “amigas e amigos” etc.
O sociólogo Pierre Bourdieu lançou as bases para esta reforma linguística na sua obra Dominação masculina. Segundo ele, a estrutura cultural androcêntrica (centrada nos homens) exerce uma dominação simbólica sobre as mulheres, que deve ser desconstruída para romper as cadeias da opressão.
Encerro estes comentários sobre o feminismo radical com duas breves observações:
- No seu romance 1984, George Orwell demonstrou magistralmente como os regimes ideológicos procuram remodelar as mentalidades através da remodelação da linguagem. Este processo, apresentado como revolucionário, constitui na verdade uma ferramenta de controle.
- Não foi o feminismo que permitiu a valorização da mulher, mas o Evangelho. Graças ao Cristianismo, a mulher foi elevada a uma dignidade espiritual e moral desconhecida do mundo pagão e até do Povo Eleito, o que deu origem à cortesia medieval que colocava a dama no lugar de honra. Este modelo de respeito mútuo entre os sexos é infinitamente superior às exigências caricaturadas e muitas vezes destrutivas do feminismo contemporâneo que ameaça distorcer a nossa cultura e os nossos referenciais fundamentais. A melhor resposta é regressar às nossas raízes cristãs, que honram a complementaridade entre homens e mulheres e a sua vocação comum à santidade para se tornarem verdadeiras imagens de Deus.
7. Ideologia de gênero 
A ideologia de gênero é um derivado do feminismo radical, nascido desta famosa declaração de Simone de Beauvoir: “Não nascemos mulher, tornamo-nos mulher.” Esta frase marcou uma ruptura, separando o sexo biológico dos papéis sociais e psicológicos associados, abrindo caminho para um questionamento fundamental da natureza sexuada do ser humano.
O termo “gênero”, inicialmente uma noção gramatical que classifica palavras como masculinas, femininas (ou neutras, em algumas línguas), foi sequestrado para abranger papéis e identidades sexuais. Assim como o gênero gramatical é arbitrário (em português se diz o sangue e o leite, mas em espanhol se diz la sangre e la leche), as feministas concluíram que uma pessoa pode assumir arbitrariamente um gênero diferente do seu sexo, dado que aquele é uma pura construção cultural. Denunciaram então a atribuição alegadamente arbitrária de papéis sociais aos sexos biológicos (por exemplo, vestir os bebês de azul ou rosa).
Essa ideia radicalizou-se com as demandas dos travestis e transgêneros, afirmando que a identidade de gênero deve ter precedência sobre o sexo biológico. Assim, os tratamentos com hormônios e as cirurgias mutilantes tornaram-se ferramentas para conformar a aparência física aos sentimentos subjetivos.
A filósofa Judith Butler levou esta lógica ao extremo, argumentando que a identidade humana não é estável, mas resulta de uma série de performances fluidas e mutáveis. Esta ideia deu origem à “teoria queer”, uma extensão dos pensamentos pós-estruturalistas de Michel Foucault, que via a heterossexualidade como uma construção cultural imposta.
Embora os termos “gay”, “lésbica”, “bissexual” e “transexual” na sigla LGBT designem identidades distintas e relativamente bem definidas, a introdução da palavra “queer” e do sinal “+” amplia o espectro das identidades sexuais e de gênero, integrando identidades fluidas, mutáveis e indefinidas, desafiando não só as categorias tradicionais, mas também aquelas consideradas desviantes.
Como resultado, a grande maioria das pessoas normais que não questionam o seu sexo de nascimento são chamadas pejorativamente com o neologismo “cisgênero”, carregado de repúdio à “heteronormatividade”. Agrega-se a dita etiqueta um conceito não científico, o de “fobias” (homofobia, transfobia etc.), para estigmatizar aqueles que defendem uma moralidade baseada no direito natural. De fato, a raiz da ideologia de gênero está numa revolta contra a ordem natural estabelecida por Deus, Criador do homem e da mulher.
Como escreveu Alphonse Allais, “uma vez ultrapassadas as barreiras, não há mais limites”.
Mas, o que deve ser lembrado quanto ao elemento woke da ideologia de gênero e do seu discurso, é que ele se alimenta da vitimização sistemática e da transferência da luta marxista do campo econômico para a luta entre um grupo social supostamente oprimido (as minorias sexuais) e um opressor (a maioria heterossexual). Esta estratégia visa desconstruir a sociedade tradicional e promover um relativismo moral que abra a porta a todos os excessos, gerando situações absurdas, preocupantes e muitas vezes prejudiciais.
Eis alguns exemplos que ilustram essa tendência:
Iniciativas como as de alguns municípios, onde drag queens organizam sessões de leitura para crianças em bibliotecas públicas, visando normalizar estes falsos modelos entre os pequeninos. Essas atividades, sob o pretexto da diversidade, introduzem conceitos complexos sobre o gênero na imaginação das crianças, perturbando a sua compreensão natural da sexualidade e da identidade.
A ideia de fornecer apenas brinquedos de gênero neutro às crianças, para lhes permitir escolher livremente o seu gênero e orientação sexual, também visa impor-lhes uma visão ideológica ignorante da natureza humana. Mesmo quando tentamos impor uma educação neutra, as crianças voltam espontaneamente a comportamentos correspondentes ao seu sexo biológico. Uma ilustração disto foi a história de Lawrence Summers, antigo secretário do Tesouro na administração Bill Clinton, que foi pressionado a renunciar ao cargo de reitor da Universidade de Harvard por ter falado numa palestra sobre diferenças inatas entre os sexos. Ele disse que presenteou suas filhas gêmeas com caminhões, num esforço para educá-las sem gênero. Mas elas os tratavam como bonecas, chamando o maior de “mamãe caminhão” e o menor de “bebê caminhão”.
Na França, uma circular do Ministério da Educação de 2021 incentivava as escolas a permitir que os chamados estudantes transexuais tivessem acesso a espaços de intimidade (toaletes e vestiários) correspondentes à sua pretensa identidade subjetiva. Pior ainda, estas diretivas também se aplicavam a viagens escolares, nas quais os estudantes transexuais poderiam partilhar um quarto de acordo com o gênero assumido, apesar da relutância legítima dos parceiros de quarto, especialmente das moças. Esta prática, já existente em estabelecimentos penitenciários de alguns países, tem levado a graves abusos, como casos de violação.
As associações também são vítimas de demandas absurdas ligadas às questões transgênero. A presidente e fundadora da La Leche League, organização dedicada à promoção da amamentação, anunciou recentemente a sua demissão. Ela explicou que o foco original da associação “ampliou-se insidiosamente para incluir homens que, por várias razões, desejam experimentar a amamentação, apesar da falta de investigação aprofundada sobre os efeitos a longo prazo da lactação masculina, tanto na sua saúde como no bem-estar dos bebês”. Segundo ela, “esta transição do respeito pelas normas da natureza, que está no cerne da maternidade através da amamentação, para a satisfação das fantasias adultas”, destruiu a sua organização.
No campo esportivo, as injustiças são flagrantes. Atletas femininas são obrigadas a competir contra homens biológicos que se identificam como mulheres, mesmo em disciplinas de contato como o boxe.
Durante os últimos Jogos Olímpicos, uma boxeadora italiana foi nocauteada em 46 segundos por um adversário argelino inter-sexo, com cromossomos XY masculinos, que acabou campeão olímpico, apesar da proibição anteriormente emitida pela Federação Internacional de Boxe Amador. Os protestos são sistematicamente recebidos com acusações de transfobia.
Caímos então numa forma de fobia inversa, sacrificando sistematicamente a realidade biológica no altar da ideologia e violando os direitos da maioria em benefício de uma minoria. As consequências dessas decisões vão muito além do âmbito dos discursos, ameaçando diretamente o equilíbrio social e o bom senso.
A ideologia de gênero, com os seus excessos e a sua rejeição das evidências naturais, demonstra um desejo de impor uma visão desligada da realidade e hostil à ordem desejada por Deus.
8. Ambientalismo radical 
Entre os excessos do wokismo, o ambientalismo radical destaca-se como um dos mais invasivos, perturbando a nossa vida quotidiana e, ao mesmo tempo, ameaçando o bem-estar coletivo. Na base dessa ideologia, encontramos uma leitura marxista dos antagonismos: aqui, a natureza, constituída como vítima virtuosa, opõe-se à “má” racionalidade humana, culpada de danos irreparáveis em nome do progresso. Este pensamento dialético designa o desenvolvimento industrial como principal opressor, pelo seu afã de reduzir a natureza a um simples objeto de exploração a serviço do lucro.
O ecologismo radical vai mais longe do que o próprio marxismo: desconstrói o antropocentrismo tradicional, seja de inspiração bíblica ou renascentista, por vezes descrito como “racismo ambiental”. O homem deixa de estar no ápice da criação para se tornar um elo entre outros numa cadeia onde cada espécie tem igual valor. Desta filosofia surge a promoção das espiritualidades indígenas, que santificam os elementos da natureza — florestas, rios, montanhas. Ao contrário das nossas sociedades hiperindustrializadas, acusadas de se esgotarem através do consumismo frenético, as tribos indígenas são apresentadas como modelos de “viver bem” e de respeito ao equilíbrio da Mãe Terra.
De acordo com esta visão idealizada, os evangelizadores e conquistadores teriam sido responsáveis por um genocídio cultural de gravidade sem precedentes, porque não só teriam destruído uma cultura humana, mas também atacado a mãe nutridora da humanidade inteira, comprometendo assim o futuro do nosso planeta.
Essa ideologia baseia-se num catastrofismo climático amplificado. A crença predominante é que o aquecimento global se deve exclusivamente à pegada do carbono humano, alimentando a psicose generalizada. Alguns jovens recusam-se mesmo a ter filhos, por medo de contribuir para um aumento de três graus na temperatura global. No entanto, cientistas reconhecidos salientam que os ciclos climáticos dependem sobretudo de fatores naturais, como a atividade solar.
As instituições internacionais, nomeadamente a ONU e a União Europeia, impõem políticas ecológicas coercivas, sob a bandeira dos “Acordos Verdes”. Estas medidas, muitas vezes punitivas, são dispendiosas e ineficazes, exigindo pesados sacrifícios por resultados insignificantes. Como disse um observador perspicaz: “Eles gastam bilhões tentando afugentar as nuvens, em vez de ajudar as pessoas a comprarem guarda-chuvas.”
Um exemplo notável é o de Valência, na Espanha. Após a grande enchente de 1957, foram construídas barragens para conter as águas. Os ambientalistas conseguiram demolir centenas delas em todo o país, alegando que as inundações são necessárias para revitalizar os cursos de água. Resultado: inundações recorrentes custaram centenas de vidas. Esta lógica delirante também é encontrada no Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA, onde os incêndios causados por raios foram autorizados a espalhar-se “naturalmente” até que um terço do parque foi destruído em 1988.
9. Consequências desta ideologia são muitas vezes desastrosas 
Em 2021, Sri Lanka proibiu pesticidas para adotar a agricultura 100% orgânica. Esta decisão precipitada causou uma queda maciça nos rendimentos agrícolas, levando a uma crise alimentar e econômica tão grave que derrubou o governo. Da mesma forma, as restrições às emissões de azoto nos Países Baixos ou as limitações à pecuária agrícola causaram raiva e desespero entre os agricultores.
Os agricultores europeus também sofrem as consequências da reintrodução do lobo e dos ursos, espécies protegidas em nome da biodiversidade. Apesar da devastação que inflige aos rebanhos, matar um lobo acarreta pesadas penas.
O ambientalismo radical às vezes se transforma em situações cômicas. No Brasil, uma mulher obteve na Justiça o direito de levar seu papagaio, espécie protegida, em viagem à Europa, alegando “laços familiares”. Mais tristemente, a França proíbe animais selvagens em circos, privando as crianças de entretenimento saudável e as famílias circenses da sua profissão tradicional, sob o pretexto de “sofrimento animal”.
Estes exemplos mostram como o ambientalismo radical promove políticas imprudentes e punitivas, muitas vezes mais prejudiciais do que benéficas.
Se o respeito pelo meio ambiente é essencial, deve ser acompanhado de discernimento, sob pena de prejudicar a humanidade que afirma proteger.
10. Interseccionalidade ou convergência de lutas 
Como mencionado anteriormente, todas estas teorias baseiam-se na ideia marxista de uma luta dialética entre uma maioria opressora e minorias que buscam a liberdade das restrições impostas pela sociedade. Seguindo o princípio de que “inimigo do meu inimigo meu amigo é”, essas correntes convergem para tentar desintegrar o sistema liderando micro revoluções setoriais.
Esta estratégia está agrupada sob o conceito de interseccionalidade, desenvolvido por Kimberlé Crenshaw. Destaca o fato de que as reivindicações relacionadas com gênero, raça, classe ou orientação sexual não podem ser isoladas, mas devem ser vistas como interligadas. Portanto, a erradicação das chamadas estruturas “discriminatórias” requer um tratamento abrangente e coordenado que vise uma transformação radical da sociedade.
Desta visão “interseccional” emergem correntes híbridas como o ecofeminismo, que articula a ecologia radical e o feminismo ao afirmar que a dominação das mulheres e da natureza encontra as suas raízes nas estruturas patriarcais. Há também, na encruzilhada do feminismo e do antirracismo, o afrofeminismo, que denuncia as opressões estruturais entrecruzadas da misoginia e do racismo, supostamente sofridas pelas mulheres afrodescendentes.
O wokismo funciona assim à maneira de um polvo com múltiplos tentáculos. Cada luta setorial — seja o feminismo, a ecologia, as lutas antirracistas ou a defesa dos direitos LGBT — pode às vezes atuar isoladamente para desconstruir o sistema, mas com frequência operam em sincronia.
Por exemplo, o movimento American Black Lives Matter inclui reivindicações feministas e LGBT na sua luta. Os povos indígenas e os ativistas anticapitalistas estão se envolvendo em lutas ecológicas. Da mesma forma, os defensores da imigração defendem os direitos dos chamados refugiados LGBT, e os livros didáticos são concebidos para incutir uma visão dita woke da história, incorporando lutas raciais, direitos das minorias sexuais e preocupações climáticas de gênero.
No entanto, essas iniciativas interseccionais não estão isentas de tensões internas. Os movimentos podem às vezes divergir devido a diferentes prioridades ou conflitos ideológicos. Mas, na maioria dos casos, essas diferenças dão lugar a um anseio comum: desconstruir as estruturas tradicionais da sociedade. O wokismo, ao promover estas convergências, torna-se assim uma força polimórfica, multiplicando frentes para amplificar o seu impacto na ordem social estabelecida.
11. “Cancelar”: primeiro passo para impor a ditadura woke 
Uma das ferramentas que revelam a abordagem comum a essas diversas correntes do wokismo é a “cultura do cancelamento”. Este mecanismo de boicote social, amplamente praticado nas redes sociais, visa denunciar e condenar ao ostracismo uma pessoa, uma organização, um órgão de imprensa ou uma conta numa rede social por comentários ou comportamentos considerados inaceitáveis de acordo com os padrões woke. O objetivo, sob o pretexto da justiça moral, é silenciar os adversários e impor uma ditadura ideológica, especialmente nas universidades, nos meios de comunicação social e nos meios culturais.
Essas campanhas de cancelamento, muitas vezes amplificadas por hashtags (#CancelX), levam a consequências concretas, como despedimentos, perda de contratos ou boicotes econômicos.
Assim, J. K. Rowling, autora da saga Harry Potter, tem sido alvo de repetidos ataques por suas declarações consideradas transfóbicas, como sua recente resposta a um parlamentar transgênero alegando que uma mulher trans é “biologicamente idêntica a uma mulher cisgênero”. A romancista retrucou: “Se homem é mulher, não existe mulher. Você destrói esta categoria.” Essas posições, embora argumentadas, geraram uma nova onda de boicotes contra suas obras.
A cultura do cancelamento também ataca símbolos históricos e culturais. Estátuas de Cristóvão Colombo, Junípero Serra e Cecil Rhodes foram demolidas ou ameaçadas pelo seu suposto envolvimento na opressão.
Até obras como Tintim no Congo foram condenadas por racismo e colonialismo, relidas de acordo com “sensibilidades contemporâneas”, denunciando estereótipos considerados ofensivos. Resultado: o álbum foi retirado de algumas bibliotecas ou reservado ao público adulto, e chegou a ser alvo de denúncia por racismo na Bélgica.
As histórias infantis não passam despercebidas: A Bela Adormecida foi criticada pelo “beijo não consensual” do príncipe. Em 2017, uma mãe britânica defendeu a remoção desta história da leitura escolar ou a sua utilização para educar as crianças sobre o consentimento.
Alguns propuseram reescritos feministas ou a inversão dos papéis de gênero (a moça despertando o príncipe) para “atualizar” a narrativa.
Clássicos da literatura considerados há muito como pilares culturais, também passam por essa releitura woke. Na Universidade de Columbia, os estudantes denunciaram a leitura obrigatória de Homero pelos supostos preconceitos raciais e de gênero da Ilíada e da Odisseia.
Na França, a partir de 2010, críticas semelhantes surgiram na Sorbonne contra Molière e Racine, acusados de validar as hierarquias sociais do seu tempo e de reforçar o patriarcado através de personagens femininas subordinadas ou trágicas.
Esses exemplos mostram que a cultura do cancelamento vai além do simples debate de ideias para se tornar uma ferramenta coercitiva. Ao marginalizar e silenciar vozes dissidentes, impõe uma visão única e totalitária da sociedade, aniquilando o pluralismo, que é um dos pilares da democracia liberal.
12. Divisão religiosa entre a elite woke e o povo 
A divisão cultural entre falsas elites woke e populações enraizadas em valores tradicionais revela uma profunda dimensão religiosa. A esquerda caviar, majoritariamente ateia ou atraída por espiritualidades individualistas como o yoga ou a Nova Era, demonstra desprezo pelas expressões populares de fé, que descreve como superstições arcaicas. Por outro lado, populações, especialmente aquelas do interior e de zonas rurais, redescobrem práticas religiosas ancestrais: peregrinações, procissões e festas comunitárias, que continuam a pontuar a vida social e a reforçar o sentimento de pertença coletiva.
Esta oposição aumenta o fosso entre uma minoria woke que reivindica o seu individualismo espiritual, e uma maioria enraizada nas suas tradições ancestrais. Esse contraste não deve ser visto como uma ameaça, mas como uma fonte de esperança. A persistência dessas práticas religiosas reflete um amor à identidade que, longe de desaparecer, afirma-se face à insegurança cultural induzida pelas convulsões modernas.
Nesse contexto, nossa missão é de preservar e revitalizar esta herança católica e sadiamente patriótica. Este trabalho baseia-se na convicção de que é possível um despertar anti-woke semelhante ao observado recentemente nos Estados Unidos. Na esperança de que se cumpra, em todo o Ocidente cristão, a profecia que São Pio X fez a propósito da Filha primogênita da Igreja:
“Dia virá, e esperamos que não esteja longe, em que a França, como Saulo no caminho de Damasco, será envolvida por uma luz celestial e ouvirá uma voz que lhe repetirá: ‘Minha filha, por que tu me persegues?’ E à sua resposta ‘Quem és tu, Senhor?’ a voz lhe responderá: ‘Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É-te difícil resistir ao aguilhão, porque, em tua obstinação, tu te arruínas a ti mesma’. E ela, trêmula e atônita, dirá: ‘Senhor, o que queres que eu faça?’ E Ele: ‘levanta-te, lava-te das imundícies que te desfiguraram, desperta em teu seio os sentimentos adormecidos e o pacto da nossa aliança, e vai, filha primogênita da Igreja, nação predestinada, vaso de eleição, vai levar, como no passado, meu nome diante de todos os povos e diante dos reis da Terra’.
Por José A. Ureta.
Publicado originalmente pela Revista Catolicismo,
edição número 890 de fevereiro de 2025.
Nota da Editoria:
Imagem da capa: “Disneyland Woke, Tearing Down the Past” (2022), de Edwin Loftus.