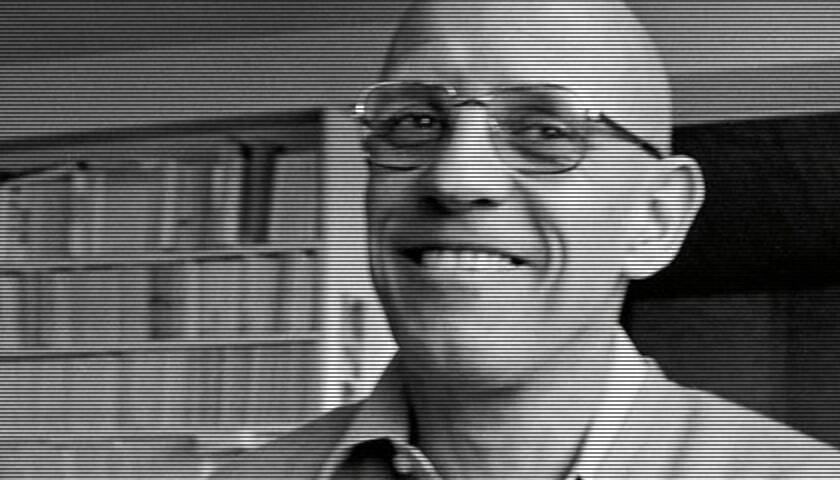“Há sempre um paradoxo no aparente,
que é por um lado simples emergência
e por outro o portal da consciência;
a partir de um momento, no Ocidente,
os dois aspectos gêmeos da aparência,
que em Platão se completam, bruscamente
se separam. Talvez na Renascença
a tensão que a escolástica consente
à imanência do eterno no real,
perdido aquele instinto, se perdesse
na sacralização do temporal,
mas não creio: o que antes acontece
é que o humanismo faz do que aparece
o que parece, e do todo um total.”
(Bruno Tolentino, “A imitação da música” (92), em O mundo como Idéia)
Após os eventos da vida, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, algo tornou-se óbvio: sendo Ele o Verbo Encarnado, a Inteligência Divina, todo e qualquer corpo filosófico, científico e teológico, bem como toda ordem sociopolítica subjacente, para atinar com a verdade, precisaria constituir-se necessariamente de um desdobramento, um reflexo, em alguma medida, das verdades por Ele reveladas. Isto levou a um ingente esforço para se compreender e organizar, tanto quanto possível, em um quadro harmônico e favorável à inteligência humana, as palavras e atos de Cristo, que, sendo expressões da Verdade — “plenum gratiae et veritatis” (Jo 1, 14) — e produtos diretos do intelecto divino, só podem assumir, para nós, um caráter compacto, ainda que absolutamente luminoso, jamais esgotando-se na imensidão de seus conteúdos e significados.1 É a Palavra sempre viva, sempre nova, que fez São Pedro exclamar: “Tu tens palavras de vida eterna” (Jo 6, 68). Esse esforço resultou nos cimos dos maiores edifícios intelectuais da história da humanidade, nos ápices do desenvolvimento filosófico e teológico, e, pari passu, na construção da civilização ocidental como a conhecemos, mesmo em seus detalhes aparentemente mais secundários.
Isto é dizer que o cristianismo foi sempre se espargindo como que uma luz a irradiar-se para todos os recantos, permeando todos os domínios da vida do homem e coadunando-os à volta de si. Esta luz provém do “Verbo [que] era a luz verdadeira, que ilumina todo o homem que vem a este mundo” (Jo 1, 9). Inescapavelmente, o próprio Cristo tornava-se, então, ao mesmo tempo o ponto de partida e o destino da peregrinação humana sobre esta terra, em todos os seus níveis e aspectos: da formulação de uma tese filosófica à promulgação de uma lei, da vida simples em família à mais profunda atividade contemplativa, Ele haveria de ser, a quem desejasse manter-se na realidade, “o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim” (Ap 22, 13).
Tudo o que dissemos até agora foi sempre cristalino para praticamente qualquer pessoa de qualquer nível de instrução (ou de instrução nenhuma), de qualquer classe socioeconômica, de qualquer sociedade cristã pré-moderna — para não mencionar até mesmo as sociedades pré-cristãs, uma vez que os melhores filósofos gregos antigos, por exemplo, mesmo sem a Revelação, souberam conservar maravilhosamente, com o que tinham em mãos, a relação e a proporção, digamos, do status ontológico humano em face das verdades metafísicas em geral, também preservando, portanto, uma visão realista do homem diante da sophia. Hoje, porém, as coisas são diferentes.
Da miríade de assaltos e ultrajes que a verdade sofre desde tempos imemoriais, os que mais definitivamente inauguram a era moderna merecem aqui um destaque especial, tanto pela gravidade quanto pela presença, em todo seu vigor, nos dias atuais.
Antes de tudo, a civilização viu despedaçar-se toda uma cosmologia tradicional que não apenas se adequava perfeitamente ao que apreendemos da realidade através da percepção sensível — faculdade luminosa, absolutamente elementar à inteligência, que vem sendo sistematicamente rebaixada desde então —, mas que também constituía, na estrutura que oferecia do universo físico, um reflexo e uma espécie de atualização da dimensão meta-física e dos planos ontológicos superiores, e no interior da qual o homem surgia como um microcosmo deste universo. A revolução científica de Galileu — muito mais espiritual e cultural do que científica — tirou do homem sua capacidade de ler o mundo criado em toda sua dimensão qualitativa, simbólica e transcendente, e fê-lo perder qualquer noção de objetividade deste mundo (e sua própria), bem como o fundamental senso de integração real a este, algo inconcebivelmente distante de crer-se uma partícula de matéria cujo acaso teve por bem dispersar aleatoriamente em uma parte qualquer de um universo interminável e vago de qualquer significado.
No fundo do cenário mental sobre o qual Galileu monta suas alegações, jaz um subjetivismo radical cuja máxima expressão pôde ser encontrada na filosofia de René Descartes, antes de desaguar em um dilúvio de outras teorias nela inspiradas. Até hoje a inteligência humana não se recuperou — e talvez nunca tenha estado tão longe de fazê-lo — da esquizofrenia pseudointelectual que, primeiro, cindiu estrutural e formalmente a realidade entre o “mundo do pensamento” e o “mundo material”, e, depois, não satisfeita, fez e ainda faz muita gente tomar como fato evidente que as qualidades sensíveis dos objetos não pertençam aos próprios objetos, mas sejam elementos mentais como que neles projetados. Em outras palavras: o que observamos diretamente não é o mundo físico, e sim o mundo das coisas do pensamento, das coisas mentais; e os elementos mentais não são assim tão mentais, uma vez que constituem o que antes julgávamos ser próprio do mundo físico da nossa experiência quotidiana. Tudo, então, está de ponta-cabeça: lá se vão séculos e mais séculos não apenas da tradição intelectual que culminou naqueles altíssimos edifícios já mencionados, mas também de simples normalidade psicológica e senso comum, através dos quais qualquer pessoa é capaz — desde que jamais tenha frequentado uma universidade moderna — de dizer que aquilo que vê é aquilo que vê e aquilo que pensa é aquilo que pensa.
Tal cisão da experiência, que se torna uma cisão da consciência, juntamente com suas mais profundas e danosas consequências, assumiu, com o passar do tempo, “muitas formas e muitos nomes”, vindo a constituir não somente mais um elemento entre muitos da profusa paisagem de ideologias e pseudofilosofias modernas, mas, antes, o fundo mesmo da tela sobre a qual esta se desenha. Já quase onipresente, tão sutilmente disseminado que é, este chamado dualismo, que é de fato mais uma desintegração total, tornou-se, para muita gente, a base da própria estrutura do pensamento — ou de sua corrupção —, passando, por isso mesmo, como algo imperceptível e, muitas vezes, sendo prontamente negado no próprio ato em que é acionado.
Acontece que no exato momento em que essa desintegração se torna a lente através da qual se enxerga o mundo e a si mesmo, o cristianismo, em sua inteireza, em sua unidade integral, torna-se imediatamente impossível. É que justamente por esta sua unidade, consequência do fato de ser expressão da Verdade mesma, como já dissemos, o cristianismo ou é integralmente ou não é absolutamente. A Verdade revelada por Aquele que é a suprema inteligência não pode subsistir em um ambiente psicológico no qual nenhuma unidade é possível, marcado por um fragmentarismo radical.
Não podemos nos esquecer de que, em Deus, ser e conhecer coincidem completamente; em nós, porém, não é assim. Mas justamente o fato de sermos feitos à Sua imagem e semelhança é o que nos permite aspirar, neste nosso estado, a um nível superior no qual esse hiato entre ser e conhecer — e as tensões próprias da experiência humana que ele acarreta — possa ser transcendido e superado finalmente. Aspiramos a isto, apenas, sabendo que o destino final, em sua completude, pertence apenas a Deus, tal como também os filósofos pré-cristãos definiam a jornada no caminho da sabedoria, cuja posse total jamais tiveram a pretensão de alcançar, reconhecendo-a própria do domínio da divindade. Ora, essa superação só pode ser buscada uma vez que se pressuponha haver, em uma dimensão mais elevada, ser e conhecer em unidade, em Deus; mas a mente acostumada a considerar as tensões (como mente vs. corpo, subjetivo vs. objetivo, interno vs. externo, e assim por diante) não como desdobramentos ou expressões temporais do que é resolvido apenas no mais alto plano metafísico, mas como antagonismos formais e estruturais, como é característico de praticamente todas as filosofias dos últimos três ou quatro séculos, jamais será capaz de conceber a unidade superior que as abrange e explica (e sem a qual não poderiam ser sequer percebidas).
O cristão moderno, de mentalidade tipicamente cartesiana, costuma, portanto, ter diante de si duas opções principais de deformação do cristianismo: ou o relega a um mero conjunto de regras de conduta, totalmente esvaziado de qualquer conteúdo religioso e espiritual autêntico, ou o toma como uma espécie de subjetivismo espiritualista a prescindir de quaisquer ações concretas. De um lado, um pragmatismo esvaziado de conteúdo espiritual real; de outro, um espiritualismo inerte e emasculado a desaguar invariavelmente no mais tacanho dos idealismos. No campo político, por exemplo, é possível identificar claramente, hoje, essas duas tendências: a primeira naqueles que arrogam aos quatro cantos os tais “valores cristãos”, mas não fazem o menor esforço para configurar-se a eles através de um contínuo saneamento intelectual e cultural, uma reconstrução da vida interior, pela mudança dos hábitos, pela busca da conquista das virtudes, pela prática religiosa genuína, entre outros; a segunda, nos paladinos do “isentismo cristão”, que enxergam na completa omissão em plena guerra um sinal de virtude angélica. Seja como for, o cristianismo autêntico não se encontra, certamente, nem no farisaísmo moderno do primeiro grupo, nem na mornidão afetada do segundo. A articulação entre os aspectos ativos, práticos e “externos” e os aspectos contemplativos, meditativos e “internos” da vida cristã pode ser de fato algo complexo, principalmente diante de situações específicas frente às quais é preciso posicionar-se ou tomar decisões rapidamente. Estas, no entanto, são contradições apenas aparentes, que, repito, jamais chegarão perto de ser ultrapassadas — e não “solucionadas”2 — nas mentes em que não possa subsistir sequer a própria concepção da unidade no interior da qual isso pode ser operado.
Falar de Deus como unidade e onipresença é algo muito diferente de experienciá-lo realmente, existencialmente (na falta de um termo melhor), como tal. O simples salto entre esses dois níveis — o da linguagem e o do ser propriamente — já traz em si uma tensão própria da estrutura do real, tensão que só pode ser diluída no próprio Deus, no qual, novamente, ser e conhecer são um só. Isso não significa, porém, que devamos viver no sentimento da imperscrutabilidade dessas tensões e, assim, como que nos comprometer exclusiva e resolutamente com uma de suas faces em detrimento da outra, quando estas se nos apresentam de modo mais urgente, mas sim em vista dessa superação que, mesmo quando escapa às condições do nosso intelecto, sabemos encontrar-se perfeitamente realizada no intelecto divino. Só então entenderemos, sem exasperação, o que está sintetizado nas palavras de Pascal, quando diz que “ni la contradiction n’est marque de fausseté, ni l’incontradiction n’est marque de vérité”.3
Por Daniel Marcondes
Notas:
- Sempre, é claro, não no sentido de admitir novidades, mas tão somente um maior aprofundamento nas mesmas verdades originais, como já distinguia São Vicente de Lerins ainda no século V.

- As tentativas de se “resolver” essas tensões pela subordinação radical de um aspecto ao outro, ou mesmo pela negação total de um deles, resultaram nos mais atrozes exemplos de reducionismo jamais vistos, justamente por ter-se perdido de vista que a tensão é parte estruturante da realidade, não sendo passível de ser “resolvida” em seu plano mais imediato, mas integrada e superada — “dissolvida”, se quisermos — em níveis metafísicos mais elevados que a abranjam, transcendam e absorvam. Uma ilustração clara de até que ponto esse impasse pode chegar é a psicologia moderna: formada por uma galeria de diferentes escolas de pensamento, cada uma dessas escolas reivindica para si a autoridade de falar em nome daquela ciência, ao mesmo tempo em que opera de mil maneiras todo tipo de recorte artificial que deveria solucionar o problema das tensões inerentes às suas investigações, como psique vs. corpo, influência ambiental vs. influência hereditária, individual vs. social, consciente vs. inconsciente, e assim por diante. Uma concebe um homem puramente biológico, outra um cujo corpo esteja totalmente submetido às funções psíquicas, outra um que seja miraculosamente determinado apenas por elementos sociais, e coisas do tipo. Por conta disso, essas escolas não conseguem chegar a um acordo sequer a respeito do que deveria ser o próprio objeto de estudo da psicologia. Ora, todas essas tensões poderiam ser enormemente enriquecidas e reorganizadas em um todo superior, ressurgindo, vigorosas, como expressões não de meras contradições intrínsecas, mas de particularidades e características de realidades muito mais profundas e elevadas, uma vez que fossem simplesmente germinadas no interior de um conceito de ordem mais alta: o da alma humana — o “psico” em “psicologia”, afinal —, cujos cientistas modernos, no auge do estabelecimento de uma psicologia que, à época, como todas as ciências, precisava ser naturalista, utilitarista e, de preferência, laboratorial, fizeram questão de jogar fora.

- “Nem a contradição é sinal de falsidade, nem a falta de contradição é sinal de verdade.” Pensées, 1670.

Notas da editoria:
1. Imagem da capa: “Creation of Adam” (2017), por Bradley J. Parrish. ![]()
2. Este artigo foi originalmente publicado em 2 de novembro de 2022. 14 de setembro de 2025 corresponde à última edição. ![]()