“Ao mesmo tempo, as teorias de Darwin, que eram então de interesse atual, atraíram-me fortemente, pois ofereciam esperanças de extraordinário progresso em nossa compreensão do mundo (…).”
Sigmund Freud, em Um estudo autobiográfico
Os primeiros anos do século XX viram Sigmund Freud começar a ocupar-se do que viria a ser um dos principais pilares conceituais de sua ainda jovem “psychoanalyse”. Foi em um texto de 19051 que o médico austríaco utilizou pela primeira vez um termo cuja noção geral já vinha rondando, de certo modo, o fundo de suas investigações sobre os mecanismos inconscientes, e que já se encontrava presente na literatura psiquiátrica alemã do século XIX, mas que apenas alcançaria maior popularidade após sua obra e no interior do quadro mais preciso em que o considerou: o conceito de pulsão.
Para Freud, um animal qualquer agiria movido apenas pelo instinto (instinkt), força que o leva a suprir suas necessidades básicas gerais (como a fome ou a autopreservação, por exemplo), de cunho hereditário e produtora de esquemas mais ou menos fixos de comportamento, próprios da espécie em questão. Já o homem, por sua vez, seria movido pela pulsão (trieb), espécie de carga energética oriunda de uma tensão somática, de uma excitação corporal, que, em sua tradução psíquica, precisa ligar-se a um objeto de modo a dar vazão a esse estado tensional e solucioná-lo, tendendo ao equilíbrio do organismo. Diferentemente dos instintos, as pulsões estariam, assim, mais relacionadas aos desejos, às fantasias e à biografia de cada sujeito. A explicação é um tanto atribulada, para dizer o mínimo, e não vem ao caso repassá-la aqui pormenorizadamente. De momento, bastará ao leitor ter em mente que, ao desenvolver sua teoria das pulsões, o que Freud está buscando, em última análise, é dar conta do fenômeno que é sempre uma pedra no sapato de todo evolucionista: a diferença substancial, qualitativa, entre o comportamento animal e o humano (e, por consequência, a passagem “mágica” de um ao outro que a Teoria da Evolução, antes de tudo, deveria explicar, mas que pelos próprios paradigmas a partir dos quais se propõe a considerar o problema, jamais foi e jamais será capaz de fazê-lo, como veremos brevemente a seguir).
Um cão em privação de alimento, ao ter colocada diante de si uma tigela de comida, irá devorá-la em segundos, desde que não sofra, é claro, de qualquer afecção que o impeça de fazê-lo; um homem, mesmo esfomeado, pode recusar a comida por estar sob greve de fome, ou praticando algum jejum, por exemplo. Mais ainda: o homem, ao comer, nem sempre o faz apenas por necessidade; temos fome “disso” ou “daquilo” — quando sentimos vontade de um doce, não queremos uma feijoada —, e também não simplesmente preparamos os alimentos apenas em vista de saciar uma necessidade biológica, mas somos capazes de algo chamado gastronomia. Podemos comer somente o necessário, ou podemos descontar na comida alguma angústia escondida e fazê-lo compulsivamente, ou ainda pelo puro furor da gula. Podemos beber água para saciar a sede, e podemos beber do vinho para celebrar uma ocasião importante. Podemos fazê-lo com parcimônia, e podemos nos tornar alcoólatras irrecuperáveis. Em suma, as mesmas observações podem ser feitas também em relação a outros grupos de ações que, nos animais, se dão apenas por instinto e para a imediata satisfação das necessidades fisiológicas, enquanto no homem são revestidas de outras propriedades, assumindo um significado, um caráter particular, um escopo de profundidade completamente ausente no comportamento animal. Somos ainda capazes da arte, na qual Freud viu um modo especial de escoamento dessa tensão pulsional, ao qual chamou “sublimação” (sublimierung). Enfim, eis o bicho-homem, de corpo todo entremeado de afetos, fantasmas inconscientes, repressões e descargas, de vida não apenas instintual, mas pulsional.
 Deixando de lado a teoria das pulsões em si mesma — para lá de problemática e que assumiu diferentes versões ao longo da obra freudiana2 — e as fundamentações que lhe são geralmente oferecidas, cuja análise não nos interessa no momento, o fato é que, antes de mais nada, o que Freud deixa de perceber, ao observar essas diferenças fundamentais entre a vida animal e a vida humana, são as implicações digamos metafísicas necessariamente decorrentes desse simples estado de coisas, implicações estas que ele não poderia aceitar sem que fossem imediatamente ao ralo todos os pressupostos filosóficos sobre os quais a psicanálise se encontra assentada.
Deixando de lado a teoria das pulsões em si mesma — para lá de problemática e que assumiu diferentes versões ao longo da obra freudiana2 — e as fundamentações que lhe são geralmente oferecidas, cuja análise não nos interessa no momento, o fato é que, antes de mais nada, o que Freud deixa de perceber, ao observar essas diferenças fundamentais entre a vida animal e a vida humana, são as implicações digamos metafísicas necessariamente decorrentes desse simples estado de coisas, implicações estas que ele não poderia aceitar sem que fossem imediatamente ao ralo todos os pressupostos filosóficos sobre os quais a psicanálise se encontra assentada.
Ora, a questão é que, diferentemente dos animais, o homem é capaz de atribuir valor às coisas, o que significa poder não apenas distingui-las quanto às suas qualidades sensíveis (como cor, textura, peso, tamanho) e funções naturais imediatas (como reconhecer que a comida está para a fome e a água para a sede), mas poder também graduá-las quanto ao lugar que ocupam, por assim dizer, no quadro da existência dele próprio e na realidade como um todo, ou seja, quanto a este “lugar ontológico” que assumem em vista do fim último deste que as percebe. Isso acontece porque o homem é dotado de uma alma, de um intelecto e de uma consciência capaz de refletir, ou seja, de redobrar-se sobre si mesma (re, “novamente” + flectere, “dobrar”) e como que retroiluminar para si a realidade por ela abarcada e, assim, contemplar o próprio ser em seus meandros e particularidades. Dito de outro modo: o homem é capaz de considerar cada elemento da realidade naquilo que ultrapassam a si mesmos, isto é, em sua transcendência, e é justamente esta capacidade que faz com que seu modo de agir no mundo seja radicalmente diferente daquele de qualquer outro ser vivo, ou, dizendo de modo mais preciso, que ele se encontre em um nível ontológico — e não apenas biológico — superior ao do animal, exata distinção que a Teoria da Evolução, para continuar de pé, não pode admitir.
Sendo assim, essa atribuição de valores, enraizada na intuição da transcendência, não é, portanto, aprendida, mas está sempre presente desde que cada um de nós vem ao mundo, pois é de nossa constituição essencial. Ela é uma condição para o aprendizado humano, não o contrário, e o que faz com que este ultrapasse monumentalmente o nível do mero condicionamento, ao qual os animais, por sua vez, mantêm-se sempre presos. Toda criança sabe que sua mamãe pertence a uma esfera de realidade insondavelmente mais profunda e mais importante do que a formiguinha com a qual brinca no jardim — absolutamente nenhuma criança jamais viveu nem jamais viverá por uma única fração de segundo fora desse pressuposto, e não porque tenha recebido aulas de metafísica aristotélica, nem mesmo porque a figura materna a tenha levado a tal conclusão mediante o fornecimento (ou pelo contraste da falta) de alimentação, conforto, segurança e assim por diante, mas porque alimentação, conforto e segurança apontam, na experiência concreta desta criança, a uma ordem, uma harmonia superior que sua mãe incorpora provisoriamente e da qual é apenas uma expressão, e de cuja presença total, da organização das formigas no jardim à ordem cósmica, ela passará a ser testemunha, pouco a pouco, até o fim da vida. É claro que esta ordem pode tornar-se cada vez mais clara e mais adequadamente verbalizada quanto melhor trabalhadas forem as faculdades intelectuais, espirituais e morais, e quanto melhor se efetuar, após um longo acúmulo de informações, experiências e percepções, as articulações entre tudo isso, principalmente através da técnica filosófica e do aprimoramento do domínio da linguagem. O modo de ser, porém — o trazer em si essas potências —, já está dado no indivíduo desde o início: ser humano é, necessariamente, ser deste modo.3
Mas não vivemos, é claro, apenas de pura intuição: o tempo todo nos é exigido julgar objetos e situações no âmbito dessa graduação à qual nos referimos, e é aí que aparecem os erros. O ato intuitivo, por ser uma apreensão direta, imediata, da realidade, é sempre correto; dizer, explicar ou provar o que foi percebido, porém, envolve uma série de processos cognitivos, uma série de raciocínios sobre as intuições prévias, durante os quais surgem as falhas, as inadequações, as maiores ou menores insuficiências na expressão. Saber alguma coisa é muito diferente de dizê-la. A obra platônica, que é puro trabalho de distinções ontológicas do início ao fim, já nos mostra isso de forma muito clara, ao apresentar, em alguns diálogos, a situação em que um ou mais interlocutores, apesar de defenderem uma opinião indiscutivelmente verdadeira e óbvia, compartilhada por todos, não só não conseguem prová-la como chegam a ser obrigados, por força de uma argumentação que não podem vencer, a admitir o seu contrário, mesmo sabendo que estão certos.
Há mais, porém. Podemos dizer que julgar um determinado objeto, nesse sentido, é discerni-lo segundo um “mais” e um “menos” — mais ou menos importante, mais ou menos necessário, mais ou menos conveniente, e assim por diante. Podemos considerá-lo de maior ou menor valor em relação a determinado fim, mas não somos nós quem estabelecemos esses fins em si mesmos; tudo o que fazemos é buscar captá-los o mais satisfatoriamente possível, à medida que nos surgem sempre imiscuídos em todo tipo de elementos acidentais, uma vez que nos aparecem não como puros conceitos, flutuando sobre nossas cabeças, mas encarnados na concretude desta esfera de realidade em que vivemos. Para seguir na companhia de Platão, digamos com ele que, por exemplo, podemos julgar determinada dieta melhor do que outra, do ponto de vista do bem que pode trazer a um doente acamado, mas não fomos nós quem criamos a saúde “em si”, ou, digamos, a Ideia de Saúde. Podemos dizer que certo professor é mais instruído do que outro e, portanto, mais apto a auxiliar um aluno quanto aos temas de sua especialidade, mas não fomos nós quem criamos a Inteligência. Podemos dizer que uma vida de oração é mais propícia à salvação da alma do que ser um traficante de drogas, mas não fomos nós quem criamos a Piedade. Ou seja, tudo o que podemos fazer é aproximar certos objetos de certas ideias, de certas noções, ou, digamos, posicionar este objeto mais ou menos próximo de um ou outro extremo de uma escala, sem, contudo, condicionar a existência dos seus polos. Precisamos, então, nos perguntar: quem foi que estabeleceu esses valores absolutos, digamos assim, em vista dos quais discernimos tudo o que nos rodeia? Quanto a nós, nada podemos fazer senão trabalhar com as ferramentas e materiais que nos são dados de antemão, e que já existiam antes de que viéssemos a este mundo e seguirão existindo depois que o deixarmos. É preciso admitir o óbvio: é a própria estrutura do real que é assim, estrutura da qual apenas participamos e que buscamos compreender e expressar o melhor possível para, então, tanto melhor nos adequar a ela.
Enfim, essas são algumas reflexões que impõem-se naturalmente, por necessidade lógica, quando consideramos aquele mesmo conjunto de fenômenos observado por Freud, que, comprometido desde o início com suas influências materialistas, relativistas e evolucionistas, iniciou suas investigações já partindo de certos pressupostos sobre como a realidade não poderia ser, em vez de deixar que os fatos falassem por si mesmos, único caminho para uma ciência e filosofia autênticas. Aqui poderia surgir a objeção de estarmos simplesmente confundindo os níveis da questão: Freud, dado o escopo de suas pesquisas, estaria justamente discutindo apenas os aspectos psicofisiológicos do problema, sem jamais pretender abordá-lo do ponto de vista ontológico ou propriamente filosófico. Esta objeção, porém, nada resolve, pois os níveis maiores de realidade condicionam e abrangem os menores: se um único elemento dessa trama metafísica a que aludimos brevemente é admitido por um único instante, toda a base de sustentação conceitual da psicanálise precisaria, por consequência, ser revista, até que esta deixasse inexoravelmente de existir. As próprias pulsões por si mesmas — ou qualquer outro conceito psicanalítico — não geram e nem explicam a autoconsciência e a intelecção humana, muito menos a estrutura da realidade que nos precede cronológica e ontologicamente. Pela definição que propõe de si mesma, a psicanálise não alcança a transcendência: seu teto é um materialismo enfeitado, ou, melhor dizendo, um imanentismo por excelência; o mais alto a que pode chegar são os limites do corpo, do psiquismo e da psicofisiologia. O próprio Freud, porém, deveria ter notado que, apenas com isso, ele mesmo não poderia ter criado hipóteses para explicar o que pretendia explicar, algo que só lhe foi possível exatamente por ser capaz de transcender a dimensão material imediata de seu próprio organismo. Em outras palavras: a teoria freudiana é um exemplum in contrarium da teoria freudiana.
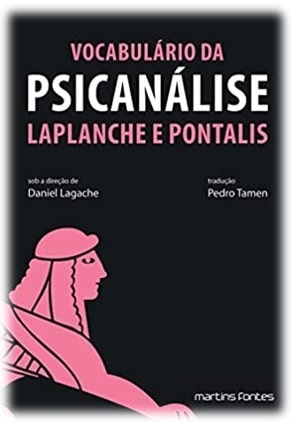 O mais curioso é que Freud, ao longo de sua obra, fez questão de demonstrar conhecimento da filosofia e literatura gregas, razão justamente pela qual resolvi utilizar a linguagem platônica para minhas ilustrações acima. Foi na cultura grega que ele buscou muitas figuras para rechear suas teorias, como no caso da catarse, do complexo de Édipo e do conflito entre Eros e Thanatos nas próprias pulsões de vida e de morte. Aliás, em relação às pulsões, Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis registram, em seu famoso Vocabulário da Psicanálise, que Freud “faz entrar o conjunto das manifestações pulsionais numa grande oposição fundamental, tirada, aliás, da tradição mítica; oposição da Fome e do Amor e, depois, do Amor e da Discórdia”4 (cf. nota 2), o que não deixa de remeter também à antiga tábua pitagórica dos opostos. É, no entanto, o próprio pai da psicanálise quem afirma, em uma frase cujas implicações totais merecem um tratamento exclusivo em outra oportunidade, que: “A teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia. As pulsões são entidades míticas, magníficas em sua imprecisão. Em nosso trabalho, não podemos desprezá-las, nem por um só momento, de vez que nunca estamos seguros de as estarmos vendo claramente”.5
O mais curioso é que Freud, ao longo de sua obra, fez questão de demonstrar conhecimento da filosofia e literatura gregas, razão justamente pela qual resolvi utilizar a linguagem platônica para minhas ilustrações acima. Foi na cultura grega que ele buscou muitas figuras para rechear suas teorias, como no caso da catarse, do complexo de Édipo e do conflito entre Eros e Thanatos nas próprias pulsões de vida e de morte. Aliás, em relação às pulsões, Jean Laplanche e Jean-Bertrand Pontalis registram, em seu famoso Vocabulário da Psicanálise, que Freud “faz entrar o conjunto das manifestações pulsionais numa grande oposição fundamental, tirada, aliás, da tradição mítica; oposição da Fome e do Amor e, depois, do Amor e da Discórdia”4 (cf. nota 2), o que não deixa de remeter também à antiga tábua pitagórica dos opostos. É, no entanto, o próprio pai da psicanálise quem afirma, em uma frase cujas implicações totais merecem um tratamento exclusivo em outra oportunidade, que: “A teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia. As pulsões são entidades míticas, magníficas em sua imprecisão. Em nosso trabalho, não podemos desprezá-las, nem por um só momento, de vez que nunca estamos seguros de as estarmos vendo claramente”.5
É que Freud, apesar de ter-se servido dessas imagens e conceitos, adaptando-os ao seu corpo de proposições e modificando-lhes ora mais, ora menos o significado, jamais conseguiu deixar de observar a filosofia grega — ou qualquer outra linha tradicional de investigação filosófica — desde o alto do costumeiro pedestal de superioridade condescendente a partir do qual julgava a tudo quanto existe, tomando-a como mera manifestação cultural de determinados sintomas em uma determinada época, uma tentativa algo interessante de elaboração de certas experiências da vida psíquica para as quais apenas ele tinha as chaves explicativas, sem perceber que a mera existência da psicanálise era ela mesma uma expressão sintomática do decaimento intelectual, moral e espiritual que constitui o que conhecemos por Modernidade.
Por Daniel Marcondes.
Notas:
- Freud, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade.

- Duas são as fases principais: na primeira, Freud postula um conflito entre pulsões sexuais e pulsões de autoconservação; na segunda, entre pulsões de vida e pulsões de morte. Cf. Freud, S. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905); Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico (1911); As pulsões e suas vicissitudes (1915); Além do princípio do prazer (1920).

- Diante deste fato, Freud foi obrigado a recorrer ao artifício de considerar a sexualidade — fundamento máximo de sua teorização da vida psíquica — uma função ativa desde o nascimento do sujeito, cujo desenvolvimento se daria, então, através de estágios psicossexuais. Cf. Carta 71 a Wilhelm Fliess (15 de outubro de 1897); A sexualidade na etiologia das neuroses (1898); Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905); O esclarecimento sexual das crianças (1907); Sobre as teorias sexuais das crianças (1908); Análise de uma fobia em um menino de cinco anos (1909); Um tipo especial de escolha de objeto feita pelos homens – Contribuições à psicologia do amor I (1910); História de uma neurose infantil (1918, aumentada em 1924); A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da sexualidade (1923); O ego e o id (1923); A dissolução do complexo de Édipo (1924); Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos (1925).

- Laplanche, J.; Pontalis, J.-B. Vocabulário da Psicanálise. 4a ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 396.

- Freud, S. Novas conferências introdutórias sobre psicanálise – Conferência XXXII: Ansiedade e vida instintual [“Angústia e vida pulsional”] (1933 [1932]). In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, vol. XXII. Rio de Janeiro: Imago, 2006, p. 98 [com ligeira alteração apenas para conservar a correspondência entre trieb e “pulsão”, em vez de “instinto” (instinkt)].

Notas da editoria:
Imagem da capa: “Dr. Freud Introduz Uma Paciente em seu Inconsciente” (1929), por William Henry Dyson (1880 – 1938).




