“A virtude não é a ausência de vícios ou a abstenção de perigos morais;
a virtude é algo vívido e distinto, como a dor ou algum cheiro em particular.
Misericórdia não é o mesmo que não ser cruel ou poupar as pessoas de vingança ou punição;
é algo claro e positivo como o sol, que se pode ver ou não ver.”, G. K. Chesterton (1874 – 1936).
Lembro-me de uma esplêndida manhã, toda azul e prateada, nas férias de verão, em que eu relutantemente interrompi a tarefa de não fazer nada em particular, coloquei um chapéu qualquer e peguei uma bengala, e pus seis pedaços de giz de cores vivas em meu bolso. Depois entrei na cozinha (que, juntamente com o restante da casa, pertencia a uma velha senhora muito justa e sensata em um vilarejo de Sussex) e perguntei à proprietária e ocupante da cozinha se teria papel pardo. Ela tinha bastante. Na verdade, tinha demais; e enganava-se quanto ao propósito e à razão da existência do papel pardo. Ela parecia estar imbuída da ideia de que se uma pessoa quisesse papel pardo é porque devia estar querendo fazer um embrulho, o que era a última coisa que eu queria: com efeito, é algo que descobri estar além da minha capacidade mental. Assim, ela discorreu longamente sobre as muitas qualidades de resistência e durabilidade do material. Expliquei-lhe que apenas queria desenhar nele e que não queria que durasse de forma alguma, e que do meu ponto de vista, portanto, era mais uma questão não de consistência resistente, mas de superfície responsiva, algo comparativamente irrelevante num pacote. Quando ela entendeu que eu queria desenhar, ofereceu-se para submergir-me em blocos de notas, aparentemente supondo que eu fazia minhas anotações e correspondência em velhos embrulhos de papel pardo por motivo de economia.
Tentei então explicar-lhe a delicada nuance lógica de que eu não apenas gostava de papel pardo, mas gostava da característica parda do papel, tanto quanto gostava do aspecto pardo dos bosques em Outubro, ou na cerveja, ou nas faixas de turfa do Norte. O papel pardo representa a penumbra primordial do primeiro trabalho da criação, e com um ou dois gizes de cores vivas você pode extrair dele pontos de fogo, lampejos de ouro e vermelho-sangue e verde-mar, como as primeiras e abrasadoras estrelas que surgiram da escuridão divina. Tudo isso eu disse (de maneira improvisada) à velha senhora e enfiei o papel pardo no meu bolso junto com os pedaços de giz, possivelmente com outras coisas. Suponho que todos devem ter refletido sobre como são primitivas e poéticas as coisas que uma pessoa carrega nos bolsos; o canivete, por exemplo, modelo de todas as ferramentas humanas, o filhote da espada. Uma vez planejei escrever um livro de poemas inteiramente sobre as coisas em meus bolsos. Mas descobri que seria muito longo, e a idade dos grandes épicos já passou.
Com minha bengala e meu canivete, meus gizes e meu papel pardo, saí na direção das grandes colinas 1. Caminhei lentamente através daqueles contornos colossais que expressam as melhores qualidades da Inglaterra, porque são ao mesmo tempo suaves e fortes. Sua suavidade tem o mesmo significado que a suavidade de grandes cavalos de tração ou a dos troncos de faia; ela proclama diante de nossas tímidas e cruéis teorias que os poderosos são misericordiosos. Enquanto meus olhos contemplavam a paisagem, esta era tão amena quanto qualquer uma de suas cabanas, mas por seu poder era como um terremoto. As vilas no imenso vale estiveram a salvo, podia-se notar, por séculos; mesmo assim, a inclinação de todo o terreno era como a ascensão de uma enorme onda pronta a arrastá-las para longe.
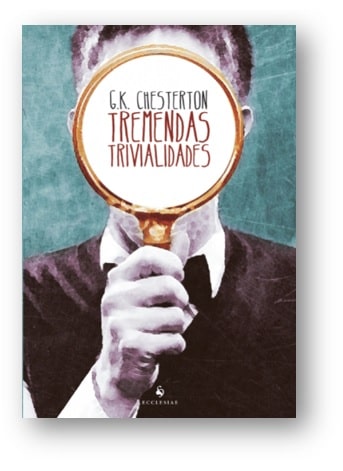 Cruzei com um montículo de turfa após o outro, procurando por algum lugar onde sentar-me e desenhar. Não imaginem, pelo amor de Deus, que pretendia desenhar a partir da Natureza. Eu ia desenhar demônios e serafins e velhos deuses cegos que os homens adoravam antes do surgimento da justiça, e santos em vestes de um furioso carmim, e mares de um verde estranho, e todos os símbolos sagrados ou monstruosos que ficam tão bem em cores vivas sobre papel pardo. Eles são muito mais dignos de serem desenhados do que a Natureza; são também muito mais fáceis de desenhar. Quando uma vaca se aproximou molemente do campo próximo a mim, um mero artista poderia tê-la desenhado, mas eu sempre me confundo com as patas traseiras dos quadrúpedes. Assim, desenhei a alma da vaca, que eu via claramente andando à minha frente à luz do dia, e a alma era toda púrpura e prateada, e tinha sete chifres e o mistério que pertence a todas as bestas. Mas, embora não conseguisse com um giz extrair o melhor da paisagem, isso não significa que a paisagem não estava extraindo o melhor de mim. E este, acredito, é o engano que as pessoas cometem sobre os velhos poetas que viveram antes de Wordsworth, dos quais se supõe que não se interessavam muito pela Natureza porque não a descreviam muito.
Cruzei com um montículo de turfa após o outro, procurando por algum lugar onde sentar-me e desenhar. Não imaginem, pelo amor de Deus, que pretendia desenhar a partir da Natureza. Eu ia desenhar demônios e serafins e velhos deuses cegos que os homens adoravam antes do surgimento da justiça, e santos em vestes de um furioso carmim, e mares de um verde estranho, e todos os símbolos sagrados ou monstruosos que ficam tão bem em cores vivas sobre papel pardo. Eles são muito mais dignos de serem desenhados do que a Natureza; são também muito mais fáceis de desenhar. Quando uma vaca se aproximou molemente do campo próximo a mim, um mero artista poderia tê-la desenhado, mas eu sempre me confundo com as patas traseiras dos quadrúpedes. Assim, desenhei a alma da vaca, que eu via claramente andando à minha frente à luz do dia, e a alma era toda púrpura e prateada, e tinha sete chifres e o mistério que pertence a todas as bestas. Mas, embora não conseguisse com um giz extrair o melhor da paisagem, isso não significa que a paisagem não estava extraindo o melhor de mim. E este, acredito, é o engano que as pessoas cometem sobre os velhos poetas que viveram antes de Wordsworth, dos quais se supõe que não se interessavam muito pela Natureza porque não a descreviam muito.
Eles preferiam escrever sobre grandes homens a escrever sobre grandes colinas; mas sentavam-se nas grandes colinas para escrever. Deixavam transparecer muito menos sobre a Natureza, mas a absorviam, talvez, muito mais. Pintavam as vestes brancas de suas virgens sagradas com a neve ofuscante que haviam contemplado o dia todo. Ornavam os escudos de seus paladinos com a púrpura e o ouro de muitos poentes heráldicos. O verde de mil folhas verdes juntou-se na figura verde de Robin Hood. O azul de uma série de céus esquecidos tornou-se o manto azul da Virgem. A inspiração entrava como raios de sol e saía como Apolo.
Mas, enquanto estava sentado rabiscando essas tolas figuras em papel pardo, comecei a dar-me conta, para meu grande desgosto, que tinha esquecido um giz de um tipo excepcionalmente belo e essencial. Procurei em todos os meus bolsos, mas não consegui encontrar nenhum giz branco. Agora, todos aqueles que estão habituados a toda a filosofia (não, religião) simbolizada na arte de desenhar em papel pardo sabem que o branco é positivo e essencial. Não consigo evitar um comentário de sentido moral. Uma das sábias e terríveis verdades que essa arte do papel pardo revela é esta, a de que o branco é uma cor. Não é uma mera ausência de cor; é algo brilhante e afirmativo, tão ardente como o vermelho, tão definitivo quanto o preto. Quando, por assim dizer, seu lápis fica incandescente, ele desenha rosas; se ele se aquece até ficar branco, desenha estrelas 2. E uma das duas ou três verdades desafiadoras na melhor moralidade religiosa, no verdadeiro Cristianismo, por exemplo, é exatamente a mesma coisa: a principal asserção da moralidade religiosa é que o branco é uma cor. A virtude não é a ausência de vícios ou a abstenção de perigos morais; a virtude é algo vívido e distinto, como a dor ou algum cheiro em particular. Misericórdia não é o mesmo que não ser cruel ou poupar as pessoas de vingança ou punição; é algo claro e positivo como o sol, que se pode ver ou não ver.
A castidade não é o mesmo que a abstenção de pecados sexuais; é algo flamejante, como Joana d’Arc. Numa palavra, Deus pinta em várias cores, mas Ele nunca pinta tão belamente, e eu quase disse tão berrantemente, como quando pinta em branco. De alguma forma a nossa época se apercebeu desse fato e o exprimiu em nosso vestuário sombrio. Pois se fosse verdade que o branco é algo vazio e sem cor, negativo e inexpressivo, então o branco seria usado em lugar do preto e do cinza nas vestes funerárias deste período pessimista. Veríamos cavalheiros da cidade em casacas de linho imaculadamente prateado, com cartolas tão brancas quanto copos-de-leite. O que não é o caso.
Enquanto isso, eu não conseguia encontrar meu giz.
Sentei-me na colina numa espécie de desespero. Não havia nenhuma cidade mais próxima do que Chichester em que fosse mesmo remotamente provável que houvesse algo como uma loja de tintas artísticas. E assim, sem branco, minhas absurdas figurinhas seriam tão sem sentido quanto seria o mundo se não houvesse boas pessoas nele. Olhei estupidamente ao redor, quebrando a cabeça atrás de alguma solução. Então repentinamente levantei-me e ri estrondosamente, uma e outra vez, até que as vacas olharam para mim e se reuniram em um comitê. Imagine um homem no Saara lamentando-se por não ter areia para sua ampulheta. Imagine um cavalheiro no meio do oceano desejando ter trazido um pouco de água salgada para seus experimentos químicos. Eu estava sentado sobre um imenso depósito de giz branco. A paisagem era toda feita de giz branco. Giz branco se amontoava por milhas até atingir o céu. Inclinei-me e quebrei um pedaço da pedra em que estava sentado: não marcava o papel tão bem quanto os gizes de lojas o fazem, mas dava o efeito certo. E lá fiquei extasiado, percebendo que esta região do Sul da Inglaterra não é apenas uma grande península, e uma tradição e uma civilização; é algo ainda mais admirável. É um pedaço de giz.
Extraído da obra: “Tremendas trivialidades”.
Autor: G. K. Chesterton (1874 – 1936). Tradutor: Mateus Leme.
Publicado pela Editora Ecclesiae, sob ISBN: 9788563160218.
Notas:
- No original, “the downs” refere-se a áreas de colinas próximas ao mar no sul da Inglaterra.

- Jogo de palavras difícil de traduzir, entre “red-hot” e “white-hot”.

Em adendo, assista palestra ministrada por Pedro Dulci, onde o objetivo é explanar a obra utilizada neste artigo.
Leia outros artigos sobre G. K. Chesterton, ou escritos por ele mesmo:
Paradoxos do cristianismo
Por G. K. Chesterton
O espirito de Natal
Por G. K. Chesterton
Uma defesa das histórias de detetive
Por G. K. Chesterton
Três excertos da obra “Ortodoxia”, de Chesterton
Por G. K. Chesterton
G. K. Chesterton e o senso de realidade
Por Rodrigo Gurgel
Ortodoxia, de Chesterton
Por Fabio Blanco
Viagem de um ao memo lugar
Por G. K. Chesterton
Autoconfiança dos patifes é a origem da obra “Ortodoxia” de Chesterton
Por G. K. Chesterton
Tremendas trivialidades
Por G. K. Chesterton
Um pedaço de giz
Por G. K. Chesterton
Catedráticos e homens pré-históricos
Por G. K. Chesterton
Conhecendo a Idade Média
Por G. K. Chesterton
Doentes pacientes; pecadores impacientes
Por G. K. Chesterton

















Qual o ensinamento? Não consegui perceber.