“(…) É tudo plano, mas só, no horizonte, o esguio campanário lembra
uma haste.
E, longe da linha sombria dos pinheiros,
Um açude, a hospedaria, três casas,
Onde começa, com uma cruz, a estrada para Deus;
De cada lado macieiras tristes prosseguindo, sem que se veja o fim.”
Paul Claudel (1868 – 1955)
Ao longo de praticamente toda a história, o homem derivou seu senso de realidade, fundamentalmente, do esforço de ordenar sua própria vida, bem como a organização civilizacional, em vista da estrutura cosmológico-religiosa sob a qual se encontrava, compreendendo as primeiras como decorrências naturais desta última e, principalmente, vendo-se a si mesmo como uma espécie de miniatura — um microcosmo — do universo físico, com todas as consequências que isto implica. Nos dias atuais, porém, o que leva um sujeito a sentir-se seguro de estar vivendo na “realidade” — termo ele próprio já tão moribundo e empobrecido de significado — é sua adesão ao discurso público corrente, à versão mais atualizada da cartilha oficial de sentimentos e opiniões aprovadas, à mais recente narrativa acadêmico-científica tornada crença obrigatória pelo establishment.
As diferenças entre esses dois tipos de princípios norteadores são tão abissais que beiram o inabarcável; por ora, basta-nos destacar apenas aquela que talvez seja a mais crucial dentre todas e que abrange as demais: ambos correspondem a esferas ontológicas distintas.
Os elementos do primeiro tipo, ou seja, de ordem cosmológica e mítico-religiosa, têm suas raízes em estratos de realidade que precedem e excedem o homem em diferentes níveis: referem-se, como escrevi em outra ocasião, a “algo objetivo, concreto, [do] qual apenas participamos e cuja existência nos é completamente independente, não sendo criação nossa e não podendo sê-lo jamais, existindo desde antes de nós e perdurando inexoravelmente depois”. Mesmo antes de que os principais problemas e conceitos metafísicos começassem a ser formalmente enunciados (o que só viria a acontecer expressamente na filosofia grega) e mesmo antes da Revelação, não houve civilização propriamente dita que não tenha sido capaz de perceber, através principalmente da contemplação do cosmos, uma série de elementos e condições a apontar uma dimensão transcendente ao mundo material, pelo que puderam desde cedo intuir, apesar de ainda inaptas a expressá-lo o mais adequadamente, uma necessária hierarquia ontológica e, portanto, ordenar-se como parte e em vista desta hierarquia. Por outro lado, todos os elementos do segundo tipo, guias absolutos do nosso tempo, enquadram-se na categoria das atividades humanas: pertencem à esfera retórica, sociológica, política, das relações sociais, dos jogos de influência, dos esquemas de poder, em suma, das ações e discursos estritamente humanos a respeito de certos aspectos particulares da experiência. Se aqueles indicavam a transcendência a este mundo, estes fecham-se rigorosa e irremediavelmente nele. Houve, então, um criminoso rebaixamento do nível ontológico dos princípios aos quais o homem aspira, em relação aos quais busca harmonizar-se e dos quais vê derivar sua essência. Seu fim último, antes procurado nas mais luminosas alturas metafísicas, agora não se encontra senão nas picuinhas da política rasteira de todos os dias e no pseudointelectualismo da religião científica moderna, satânica emulação subvertida da verdadeira Igreja e morada de um horrendo imanentismo revolucionário.
Mas se houve, como dissemos, um declínio ontológico de profundidades tão inéditas, será preciso concluir que as pessoas, hoje, estejam não apenas aderindo cega e prontamente aos mais grotescos discursos ideológicos que se lhes esfregam ao nariz, caminhando, jubilosas, para a própria destruição intelectual, espiritual e moral, e sim vivendo por um esforço, mais ou menos consciente, de alterar seu próprio eixo de existência. É claro que isso não é possível de facto: essa “alteração” se dá apenas na esfera dos pensamentos e sentimentos, jamais na esfera do ser; o empenho, porém, de construir por sobre o íntimo da própria consciência e da estrutura do real todo um mundo novo feito de fantasias e vorazes desejos desordenados, principalmente através do fingimento psicológico e da manipulação da linguagem, termina finalmente por constituir, após praticado por algum tempo — e não é preciso muito —, um traço de verdadeira insanidade mental, na acepção do termo. O resultado é este que já vemos: multidões inteiras de pobres indivíduos em profunda cisão com a realidade, sintomas ambulantes de uma metapsicopatologia moderna.
Há em todos nós, em alguma medida, o que poderíamos chamar um certo receio natural relacionado não à verdade em si — pois fomos criados por ela, nela e para ela —, mas às consequências e exigências que o conhecimento dela pode acarretar, fruto das nossas misérias e condição atual, após a Queda. É o drama da responsabilidade humana e a fuga ao sofrimento — os quais caminham muito próximos e, acredito, podem ser entrevistos já inseparavelmente na vergonha de Adão e Eva narrada no Gênesis, logo após comerem do fruto proibido —, cuja resolução verdadeiramente suficiente e autêntica não se pode encontrar senão no interior do cristianismo (pois jaz no cerne da vida e Paixão de Nosso Senhor) e que podemos e devemos aprender a superar, pouco a pouco, ao nosso tempo e a partir dos esforços que nos são possíveis. O que hoje se faz, porém, é transformar esse receio inicial natural, que é menor e secundário, em um traço completamente dominante da personalidade: eis um novo modo de vida, baseado na covardia moral e na supressão do intelecto. Não obstante, de modo a que esse estado de coisas fosse plenamente estabelecido, era preciso, como já acenamos, fazer com que suas vítimas se entregassem voluntariamente a tudo isso, desejando, buscando e agradecendo a própria aniquilação.
A principal característica de um regime de escravidão é, obviamente, a dominação forçada sobre seus cativos. O único quadro no interior do qual o escravo se coloca nesta condição por vontade própria sempre foi o cristianismo: “Ecce ancilla Domini”, exclama a Santíssima Virgem na Anunciação. Hoje, seguindo a estrutura pseudo-religiosa das novas revoluções culturais e espirituais,1 as massas se dão elas mesmas a escravizar e, quanto mais o fazem, mais se regozijam de ser esmagadas pela tirania e pela miséria em todas as dimensões possíveis. Mesmo considerando os tempos mais recentes, podemos ver, por exemplo, que o jovem de algumas gerações atrás era o típico rebelde questionador que ajudou a construir o estereótipo clássico da fase adolescente; já o de hoje caracteriza-se justamente pela incapacidade de questionar o que quer que seja e pelo quão afoito se dá, subserviente até o desaparecimento do próprio eu, à absorção e posterior propagação dos mais torpes amálgamas ideológicos, abandonando atrás de si o antigo desejo de ser protagonista do próprio destino e sentindo-se feliz e útil exatamente na medida em que se coloca ao serviço das narrativas do momento, prestando-lhes reverências carregadas de sacralidade e dando-lhes ares de verdadeiras leis eternas.
 Se o campo no qual essa modalidade de escravidão procura instalar-se é o campo da consciência, será apenas através do ato em que esta se ilumina retroativamente e se torna auto-consciência, ou seja, mais e mais consciente de si mesma, que se poderá retomar, pouco a pouco, a posse das chaves de suas portas, já não permitindo que ninguém as adentre sem expressa permissão e recobrando, finalmente, o “senhorio da própria casa” que Sigmund Freud, em sua famosa expressão,2 viu o homem moderno perder (e para o que muito contribuiu, aliás).
Se o campo no qual essa modalidade de escravidão procura instalar-se é o campo da consciência, será apenas através do ato em que esta se ilumina retroativamente e se torna auto-consciência, ou seja, mais e mais consciente de si mesma, que se poderá retomar, pouco a pouco, a posse das chaves de suas portas, já não permitindo que ninguém as adentre sem expressa permissão e recobrando, finalmente, o “senhorio da própria casa” que Sigmund Freud, em sua famosa expressão,2 viu o homem moderno perder (e para o que muito contribuiu, aliás).
A autoconsciência é, de certo modo, um ver-se a si mesmo. Enxergar-se, portanto, cada vez por mais e novos ângulos exigiria observar-se desde fora. Mas o homem não é capaz de perceber nenhum objeto, muito menos a ele próprio, por absolutamente todos os seus lados e ao mesmo tempo — do ponto de vista físico, isso está muito bem; somos, porém, capazes e mesmo naturalmente inclinados à transcendência deste mundo material imediato e ao vislumbre e contemplação de níveis de realidade ontológica superiores, apenas em vista dos quais podemos verdadeiramente nos ver tal como somos.
Ou voltamos rapidamente a considerar a nós mesmos e ao universo físico em vista da eternidade e como expressões, em alguma medida, das verdades eternas que ela encerra, ou nos entregamos de vez, sorridentes e triunfantes, à senzala espiritual comandada por aqueles mesmos carrascos aos quais Nosso Senhor se refere quando diz: “Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo” (Mt 10, 28).
Por Daniel Marcondes
Notas:
- Cf. E subirei ao altar de Deus.

- Freud, S. Uma dificuldade no caminho da psicanálise (1917), in Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, vol. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 2006.

Notas da editoria:
Imagem da capa: “Uma poça no deserto”, por Erica Green.



























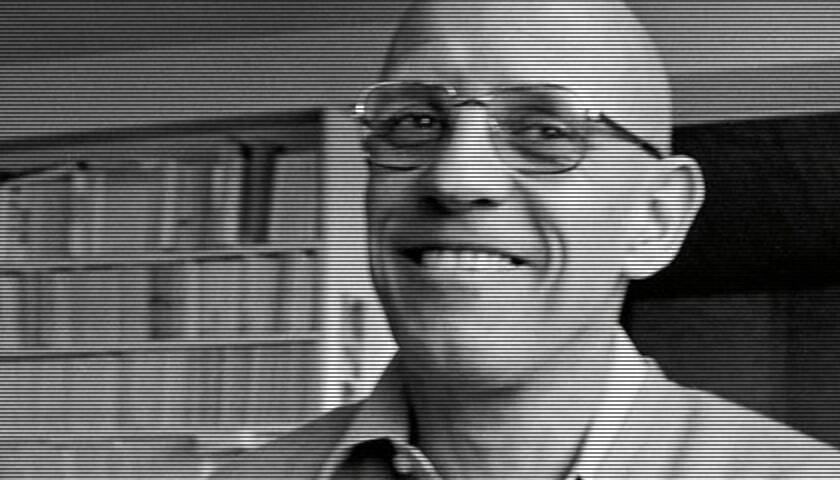




Lendo pela segunda vez! esse artigo ficou muito bom, o roger scruton fala um pouco sobre isso no livro ” a alma do mundo”, já leu? se não, recomendo a leitura, bjs