“O belo é o esplendor da ordem.”
Aristóteles (384 a. C. – 322 a. C.)
Uma de minhas mais antigas memórias de infância é a de acordar, pela manhã, ao som dos discos que meu pai colocava para tocar, experiência enormemente responsável pelo desenvolvimento do meu senso estético e gosto pela arte em geral. Para os nascidos por volta da década de 90 ou antes, esse tipo de vivência pode ter sido até bastante comum; hoje, no entanto, na era dos headphones e da internet, qual criança experimentará acordar ao som de uma bela (e decente) peça musical? Qual jovem reunirá seus colegas exclusivamente para dividir uma experiência artística? No tempo dos fones de ouvido, cada pessoa é um mundo próprio e fechado em si mesmo, apenas cada um sabe o que escuta e quando o faz. Os impactos de uma obra, as reações por ela provocadas, os valores que nos inspira, suas influências sociológicas, históricas, políticas e religiosas, considerações sobre sua execução, composição e estilo, nada mais se compartilha, sobre nada se conversa: tudo agora pertence já nem sequer à dimensão do individual apenas, mas à esfera do secreto.
O problema é que o belo, a ordem, a harmonia, não são criados pela nossa mente na particularidade de um “eu” e posteriormente projetados no “mundo exterior”, mas são próprios da realidade — objetivamente, concretamente — que se apresenta a todos nós e no interior da qual existimos. A partir do momento em que certos hábitos de contemplação estética fundamentais, como a apreciação musical, são retirados quase que totalmente para os confins da intimidade pessoal, o que estava antes ligado à realidade total e às raízes transcendentes deste mundo, e que portanto falava a toda a humanidade coletivamente, passa a dizer apenas dos sentimentos e desejos de um único sujeito. O gozo artístico, que nas obras de maior valor nos é proporcionado não em causa própria, mas à medida que nos mergulha, por pouco que seja, em um pedacinho de eternidade, deixa de ser este meio para tornar-se um fim em si mesmo, princípio de apenas mais uma forma de hedonismo além das muitas às quais o homem contemporâneo já se encontra submetido.
Do ponto de vista intelectual (para não falar do moral e religioso), esse rebaixamento da experiência estética é a pior de todas as tragédias. É mais fácil fazer um recém-convertido à vida de estudos ler as obras completas de Platão em grego do que fazê-lo sanear, pouco a pouco, seu gosto musical, por exemplo — e sem uma restauração imaginativa, sem uma reparação harmônica dos pensamentos, que são os “quadros” que compõem nossa “galeria de arte” mental, toda a filosofia do mundo será, para este, nada além de uma coleção de jargões a se decorar e aplicar mecanicamente a esta ou aquela situação.
Um verdadeiro cultivo da inteligência pode (e deveria) começar por atividades bastante simples em termos de aparência, mas muito densas em conteúdo, como, por exemplo, a criação do hábito de contemplar um pouquinho as estrelas lá fora, todos os dias, mesmo no céu urbano, ou redecorar a casa lentamente, na medida do possível, cuidando das imagens e símbolos que estarão cotidianamente diante dos nossos olhos. Se não percebermos ordem, proporção, consonância e afinação no cosmos, em toda a natureza e nos ambientes mais imediatamente próximos a nós, em vão procuraremos encontrá-los nas sentenças imóveis dos livros.
Por Daniel Marcondes.
O autor está no Substack e no Telegram.
Notas da editoria:
Imagem de capa “His Master’s Voice” (1898), por Francis Barraud (1856 – 1924). A pintura é mundialmente conhecida como logotipo da gravadora americana RCA Victor.























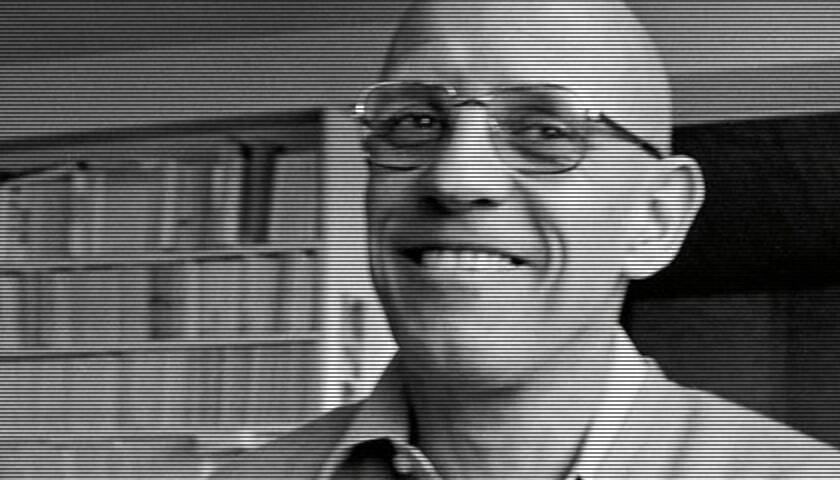




As pessoas de hoje em dia comtemplam sexo, cerveja, pizza e churrasco.