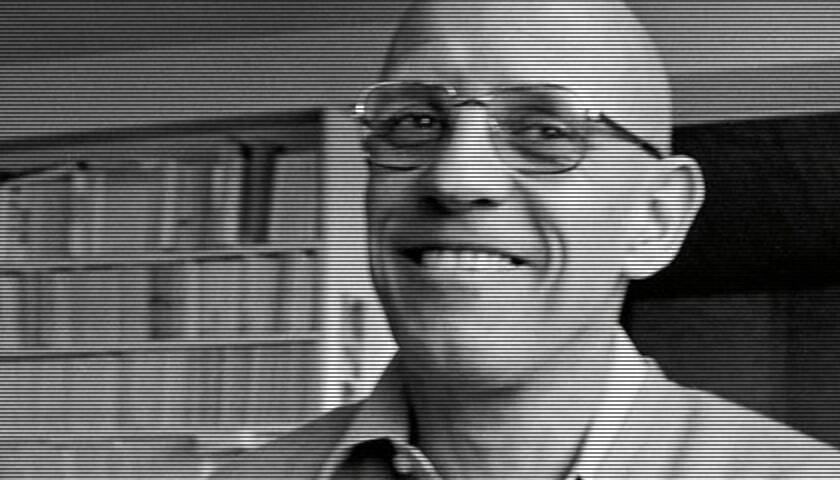“Cada época é salva por um pequeno punhado de homens que têm a coragem de não serem atuais.”,
G. K. Chesterton (1874 – 1936).
O ano é 2018; nesta altura do campeonato, o movimento revolucionário já nos brindou com os mais sofisticados, mirabolantes e cruéis instrumentos de dominação psicológica e corrupção da cultura que se possa imaginar. Travestidos de filosofia, teorias científicas, metodologias de ensino, programas sociais, sempre variando de acordo com a conveniência, não cessam de se abater, sobre este paciente já moribundo e agonizante que é a sociedade moderna, os pérfidos sintomas da psicopatologia revolucionária.
Dentre eles há um que, como tantos outros, de já tão disseminado sequer passa como tal, mas antes como indicativo de perfeita saúde mental: é esse sentimento ora de completa indiferença, ora de profundo ódio às épocas passadas, concomitante a uma reverência ao momento presente da história e à chamada “cultura contemporânea”. Do cidadão médio ao dito intelectual, todos parecem inoculados dessa total incapacidade de se reportar, se reconhecer e se identificar em vista de épocas e até civilizações anteriores, agora mais ou menos distantes no tempo, em muitas das quais o referido “paciente” vinha a encontrar-se, logicamente, não imaculado, mas em condições flagrantemente menos adoecidas.
É que ateísmo militante, feminismo, gayzismo, ideologia de gênero, abortismo, normalização da pedofilia, entre outras campanhas e engajamentos cujas bases teóricas remontam ao materialismo mais tosco, reúnem-se todos sob a fetichista — e objetivamente impossível — proclamação da relativização da verdade, amputando junto com ela um elemento que lhe é logicamente necessário e apenas em vista do qual é possível se orientar satisfatoriamente no mundo: a eternidade.
Se considerássemos, hipoteticamente, a verdade como tendo uma duração limitada no tempo, já estaríamos contrariando, no ato, sua própria definição; estaríamos agora nos referindo a algo de ordem apenas circunstancial e, consequentemente, condicionado a fatores externos. Em outras palavras: algo que parecia verdadeiro naquele momento, ou seja, da categoria da verossimilhança, e não da certeza. Mas a verdade transcende o mundo temporal e a subjetividade, e independe completamente de elementos psicológicos, históricos, sociais, políticos, econômicos, culturais ou quaisquer outros. Quando se diz, por exemplo, que dois mais dois são quatro, ou que uma coisa é ela mesma e não outra, fica evidente o caráter supratemporal da verdade expressa nesses juízos, que ressaltam estruturas da realidade já presentes (já verdadeiras) desde antes mesmo da fundação do mundo e da existência do primeiro homem. A verdade fundamenta e sustenta, sobre si, a realidade. É o mundo e o homem que existem segundo leis de verdade e possibilidade, não o contrário. A verdade e a realidade são aquilo que eram e continuarão sendo por estruturas próprias de funcionamento sobre as quais não temos a menor influência, estruturas que não foram criadas por nós e das quais meramente participamos.
Mas por que a noção de eternidade teria alguma coisa a ver com essa postura de desprezo ao passado, tão preciosamente cultivada pelos nossos contemporâneos?
Vejamos. Nossa relação com o suceder histórico se dá basicamente em duas principais instâncias, por assim dizer. Uma é a escala individual, biográfica, na qual vão sendo escritas todas as nossas experiências, registradas e acessadas retroativamente através da memória. A outra é a escala da coletividade — toda a história da humanidade, das gerações primeiras até a presente. No primeiro caso, já nos dizia o salmista: “Setenta anos é o tempo da nossa vida, oitenta anos, se ela for vigorosa” (Sl 90,10): temos uma boa ideia da média de tempo que, em geral, vive um ser humano, e por essa média nos orientamos e deduzimos as proporções e probabilidades de realização dos nossos objetivos, do que é possível alcançar em escala individual e do que haverá de ser continuado pelas gerações seguintes (noção essencial, inclusive, ao cientista e ao filósofo). Porém, quando se trata da História, esta não sabemos quando terminará, se está no começo, no meio ou em sua fase derradeira; afirmar sequer uma única palavra sobre isso seria requerer para si dotes de adivinho, ou uma clarividência tal que nem o próprio Cristo, enquanto homem, ousou reivindicar: “Quanto à data e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, somente o Pai” (Mc 13,32).
Acontece que a mera operação de um raciocínio matemático, mesmo um tão simples quanto o do exemplo acima, serve para nos lembrar de algo já muito bem elaborado desde a filosofia platônica: essa experiência especificamente humana de estar no mundo físico, temporal, sensível, e ao mesmo tempo esbarrar no mundo metafísico, pela capacidade de perceber certos aspectos dessa dimensão transcendente (com os princípios, as leis eternas, a eternidade, a infinitude, a verdade etc). Compreendido esse fato, pensar a história se torna, entre outras coisas, pensar a narrativa por muitas vezes incerta, erradia e jamais retilínea, mais espiralesca e cíclica, da busca do homem pela verdade e pelo conhecimento, pelas virtudes e bem-aventuranças, nas suas mais diversas manifestações, com todas as aquisições acumuladas no processo (como a cultura e as tradições, as ciências, o desenvolvimento tecnológico, as artes e a filosofia), em seus sucessos e insucessos, em suas misérias e heroísmos, em seus sacrifícios e autossabotagens (as antifilosofias, os governos totalitários, o cerceamento das liberdades individuais e do livre pensamento, as ideologias, o terrorismo, por exemplo, e todo tipo de manifestação de ódio à verdade, pois tanto quanto há busca da verdade, há ódio contra ela), mais ou menos consciente de fazê-lo. O ato de se reportar às gerações e épocas passadas sob essa perspectiva passa a ser, então, exercício obrigatório contra a fragmentação da consciência, visto que não só adquire o sentido de absorver o que nelas se produziu de importante, sublime e virtuoso (assim como aprender com o que houve de mau, trágico e ignóbil), como também o de remontar e compreender o caminho sobretudo moral e intelectual que homens reais, de carne e osso, percorreram para que tais tesouros, longe de caírem prontos do céu, chegassem até nós e estivessem, hoje, à nossa disposição.
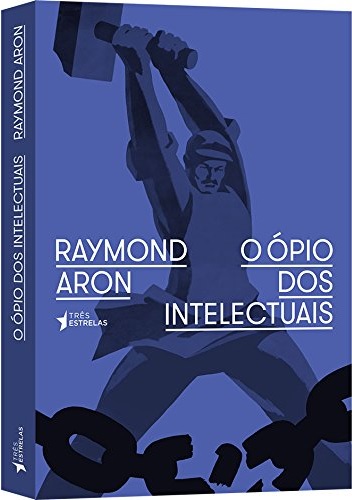 Há sempre uma distância entre aquilo que um homem pensa, descobre, produz, no âmbito pessoal, e sua subsequente incorporação ou não na cultura de uma civilização. Nenhuma ideia surge de um grupo, mas de uma consciência individual que a concebe. A reverberação dessa ideia no coletivo social, quer este último aceite ou rejeite a mesma, gera sempre um movimento tal como uma tentativa de unir duas peças de quebra-cabeças com encaixes semelhantes, mas não perfeitos. O homem, por um lado, lança mão do acervo material e cultural que lhe é legado até sua geração e, por outro, alça novos voos, coaduna este legado com sua percepção original sobre determinados aspectos da realidade, galgando novos níveis na busca da sabedoria e gerando novas compreensões, novos conhecimentos que, por sua vez, deverão ser também incorporados na cultura e transmitidos às gerações seguintes. Os movimentos que envolvem esse drama são, evidentemente, de uma profusão e complexidade tremendas.
Há sempre uma distância entre aquilo que um homem pensa, descobre, produz, no âmbito pessoal, e sua subsequente incorporação ou não na cultura de uma civilização. Nenhuma ideia surge de um grupo, mas de uma consciência individual que a concebe. A reverberação dessa ideia no coletivo social, quer este último aceite ou rejeite a mesma, gera sempre um movimento tal como uma tentativa de unir duas peças de quebra-cabeças com encaixes semelhantes, mas não perfeitos. O homem, por um lado, lança mão do acervo material e cultural que lhe é legado até sua geração e, por outro, alça novos voos, coaduna este legado com sua percepção original sobre determinados aspectos da realidade, galgando novos níveis na busca da sabedoria e gerando novas compreensões, novos conhecimentos que, por sua vez, deverão ser também incorporados na cultura e transmitidos às gerações seguintes. Os movimentos que envolvem esse drama são, evidentemente, de uma profusão e complexidade tremendas.
Mas diferentemente de tudo isso, como já vimos, as teorias materialistas e afins começam por amputar, como ponto de partida, as noções mesmas de verdade e eternidade, restando aos seus adeptos compreender a história apenas como algo necessariamente circunstancial e passível de ser relativizado ao bel prazer da ideologia do momento. A atitude revolucionária em relação à história é sempre de ruptura — nada deu certo até então, “o passado é uma roupa que não nos serve mais” e não há nada que conservar. Os eventos históricos passados, em toda sua complexidade, mesmo os de maior importância e intrinsecamente conectados com os da ocasião, não passam de degraus, etapas cujo único valor reside em ter dirigido a humanidade ao momento presente, no qual finalmente a sociedade pode colocar em marcha a tão sonhada e messianicamente prometida quebra dos grilhões, iniciando um processo de rompimento com os valores e costumes de outrora, aliado à produção massiva de material acadêmico e pseudointelectual que corrobore, “cientificamente”, as virtudes de tão excelsa emancipação da espécie. Todo e qualquer ponto de vista em contrário é tratado como o indicador de um retrógrado, um parado no tempo, um lunático, representante da “velha roupa colorida” em oposição a um modernismo iluminado, portador e definidor legítimo do Bem, do Belo e da Verdade, relativizados quando se trata do inimigo, bastante concretos quando em relação à própria agenda.1
É urgente resgatar a experiência de uma existência sub specie aeternitatis, ou seja, em vista da eternidade, ou sob o aspecto da eternidade. Sócrates só pôde nos legar um projeto filosófico por ter percebido que o método de busca da sabedoria, pela própria essência desta, não poderia ser realizado por um homem apenas, mas unindo as gerações seguintes, uma após a outra, na continuidade desse esforço. É o que veremos em Nosso Senhor Jesus Cristo: apenas para ficar no exemplo acima, ao admitir desconhecer também Ele, enquanto homem, a data do fim dos tempos, está afirmando não ser dado a nenhum de nós sabê-lo. Mas exatamente por isso, todas as gerações são convidadas a viver não em desespero total, ou num carpe diem tosco e vazio, apavoradas pela iminência da morte, mas cada uma como se fosse a última, portanto como uma só, conscientes de sua participação em um mesmo destino humano.
Após doses cavalares de teologia da libertação, não é de se espantar que, mesmo entre cristãos, vejamos esse comportamento geral de enraizamento nas modas do dia. É a substituição do homem livre, de todas as épocas, cuja imagem se inclina diante de Deus apenas, pelo famoso “homem de seu tempo”, mundano, fragmentado, incapaz de tender à verdade porque incapaz de tender — e sequer concebê-la — à eternidade. É assim que nos fechamos à possibilidade de colher dos bens do passado e cultivar devidamente os futuros, nos contentando em regar com lágrimas de sangue uma árvore da qual em vão se espera os frutos, porque já cortada desde a raiz pela ruptura revolucionária.
Não é fugir do mundo sensível, mas decidir-se por viver essa realidade de homem intermediário. É resgatar o dever de agir não de modo a agradar este mundo, mas segundo a verdade, mesmo e principalmente quando ela nos levar a perder tudo aqui e agora.
São Paulo diz que Deus “(…) quer que todos os homens [portanto os homens de todas as épocas] sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade” (1 Tm 2,4). A quem pretenda se dedicar a tal realização, só será possível fazê-lo desde o ponto de vista da eternidade e nenhum outro.
Escrito por: Daniel Marcondes.
Este artigo é eviterno, mas foi originalmente publicado em 20 de agosto de 2018,
no website Culturateca (“versão” antiga da Cultura de Fato).
Notas:
- Sobre a concepção revolucionária de história, principalmente de tipo marxista, vale a pena conferir a segunda parte inteira de O Ópio dos Intelectuais, de Raymond Aron, que o autor dedica inteiramente ao assunto.

Nota do editor:
A imagem associada a esta postagem ilustra recorte da obra: “Discutindo a Divina Comédia com Dante”, criada em 2006 pelos taiwaneses Dai Dudu, Li Tieze e Zhang An. Para visualizar a obra inteira e em alta definição, clique aqui.